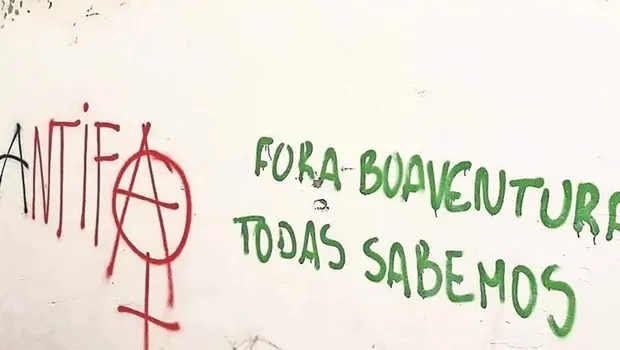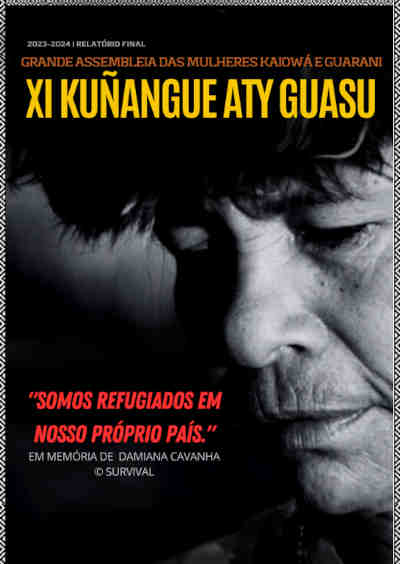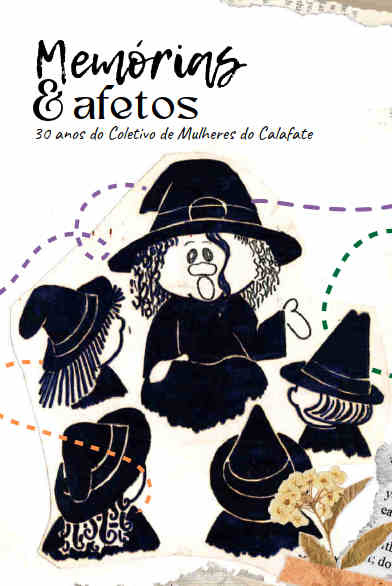Lei 10.639 completou 20 anos, mas ainda patina na sua implantação, principalmente nas escolas particulares

Lei 10.639 completou 20 anos, mas ainda há entraves para seu efetivo funcionamento no cotidiano escolar - Toninho Tavares/Agência Brasília
A Lei 10.639 acaba de completar 20 anos de promulgação. Ela estabelece, nas diretrizes e bases da educação nacional, a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino de todo o país a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. As educadoras ouvidas pelo Brasil de Fato, analisam que, apesar de ser um importante passo para uma educação efetivamente antirracista, ainda há um longo caminho a ser percorrido.
Vanda Machado, autora do livro Irê Ayó – Uma Epistemologia Afro-Brasileira, aponta a existência de projetos muito bonitos, significativos e apropriados em muitas escolas, mas reconhece que há um embate para a aplicação da lei 10.639, principalmente, quando se trata da visão e do poder na sala de aula com professoras e diretoras evangélicas. “Elas ainda não compreenderam que a nossa questão não é evangelizar, mas falar de uma história de valor, porque a história que tem sido mostrada como a história do negro no Brasil é uma história de misérias. Importante é mostrar a história do povo negro antes do europeu chegar, a história de um povo nobre, um povo forte, guerreiro e sábio”, diz.
:: Antropólogo Kabengele Munanga reconhece avanços mas alerta: "Racismo é um monstro complexo" ::
É importante destacar que a Lei que propõe educação para as Relações Étnico Raciais não é uma lei para educação de crianças pretas, mas sim para a educação de todas as crianças brasileiras. Com essa pontuação importante, Vanda Machado, pesquisadora, historiadora, mestra e doutora pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), reafirma que a Lei 10.639 atende a vozes negras instituintes para necessidade da efetiva cidadania na educação.

Vanda Machado, pesquisadora, historiadora, mestra e doutora pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) / Arquivo pessoal
“É o mestre [Kabengele] Munanga quem nos diz que a educação antirracista não interessa apenas a crianças negras. Ou ainda como nos diz Mandela: ‘Ninguém nasce odiando o outro pela cor da pele. Se é possível ensinar a odiar, também é possível ensinar a amar’”, declara a professora que é também colaboradora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) e recebeu a Comenda do Conselho Estadual de Educação (CEE) por Serviços prestados à Bahia e ao Brasil.
Nessa mesma direção, motivada pelo fortalecimento de uma educação antirracista e pela construção coletiva disso, Bárbara Carine Soares Pinheiro debate amplamente o tema na vida e nas redes sociais. Ela é professora do Instituto de Química da UFBA e do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS). Apesar de validar os avanços conquistados com a Lei 10.639, reconhece ainda grandes entraves em relação ao cumprimento efetivo dessa e de outras leis educacionais, a exemplo da lei de ingresso de docentes negros e negras dentro do corpo de professores e professoras nas universidades brasileiras. “São esses e essas profissionais que devem pautar o enegrecimento sistêmico dessas formações pedagógicas”, afirma.
Bárbara reconhece que o movimento negro tem cumprido o seu papel de cobrar e de pressionar e que as pessoas, no contexto da pandemia – com a amplitude de formações online –, também se interessaram mais em buscar formações antirracistas. “Eu acredito que a gente caminhou, mas não caminhou o suficiente como deveríamos. O que a gente precisa, agora, é superar uma perspectiva de estereotipação da cultura afro-brasileira que a localiza apenas dentro de uma dimensão folclórica, dentro da dimensão religiosa, sem entender que as nossas bases são também científicas, filosóficas, éticas, estéticas, políticas”, defende.
Projetos de uma educação antirracista

Escola Municipal Eugênia Anna no Ilê Axé Opo Afonjá / Paul Burley
Uma das pioneiras na educação antirracista e uma referência no ensino e na pesquisa sobre a infância, Vanda Machado assina o Projeto Político Pedagógico Irê Ayó que existe desde 1988 e, oficialmente, em 1998, passa a compor a Escola Eugênia Anna, no Ilê Axé Opo Afonjá. “Anterior à Lei em questão, a existência dessa iniciativa está relacionada ao meu projeto de mestrado, seguida do doutorado na UFBA e do meu desejo de educadora preta, nascida no Recôncavo”, explica Vanda ao se referir à educação decolonial como uma realização de projeto de vida junto à sua comunidade do Afonjá.
“Um dos cuidados que tivemos com a Escola no terreiro Afonjá, como se trata de uma escola para comunidade, frequentada por crianças de todos os credos e uma quantidade significativa de crianças praticantes de religiões evangélicas, atentamos para a necessidade de um trabalho que não apresentasse uma conotação proselitista”, afirma. A professora destaca que o currículo antirracista tem como missão considerar a possibilidade de formar sujeitos críticos, autônomos solidários e coletivos.
A professora Vanda Machado plantou a semente do que hoje vê se multiplicar por tantas outras escolas motivadas e espalhadas na Bahia e no Brasil. Com muita satisfação, Machado vê a inclusão desse debate e desse projeto em escolas particulares também. “É emocionante ver crianças de classes e etnias diferentes, na grande maioria crianças brancas, que cheias de curiosidade e alegria, mergulham na mitologia afro-brasileira”, declara.
Ela narra que essas crianças recontam a história do continente africano trabalhando principalmente com a linguagem das artes, em falas e cantigas na língua iorubá, relembra a professora que, na atividade de encerramento da Semana da África em uma escola particular da capital, testemunhou famílias, pais e mães dançarem jongo com as crianças. “Foi demais! Quase chorei”, relembra a professora.
Racismo religioso

Bárbara Carine, professora da UFBA e idealizadora da escola afro-brasileira Maria Felipa / Arquivo pessoal
Bárbara Carine, idealizadora, sócia e consultora pedagógica da escola afro-brasileira Maria Felipa, a partir das suas vivências e impressões, afirma que a aplicação da Lei não é igualitária nas escolas públicas e privadas. Para Carine, em ambos os casos, há uma pressão familiar muito grande em torno do entendimento dessa lei ao criar a obrigatoriedade do ensino de cultura e história africana e afro-brasileira em toda extensão curricular da educação básica que perpassa fundamentalmente as religiões de matriz africana.
“O racismo religioso acaba imperando dentro de uma dimensão familiar que pressiona a escola para o não cumprimento da lei”, declara Bárbara Carine que reafirma a necessidade de formação a partir de projetos coletivos. “O que temos, grande parte das vezes, são atos heróicos de professores e professoras que, por consciência histórica, se especializaram, fazem mestrado, doutorado e acabam desenvolvendo as suas práticas ancoradas nessas perspectivas, mas de um modo muito solitário”, afirma.
“Na escola pública, isso tem avançado mais do que nas escolas particulares, em que há uma relação mercadológica com o ensino muito bem explicitada. As famílias estabelecem aquilo que querem, demandam da escola e a escola – a partir das orientações curriculares nacionais – cumprem aquilo que a família demanda. Ou seja, não negando os documentos oficiais do MEC, mas, ao mesmo tempo, escamoteando aquilo que é possível escamotear”, explica Carine.

Escola Afro-Brasileira Maria Felipa é um projeto em execução de educação antirracista na rede particular / Divulgação
Ela aponta como forma de avançar no ensino e na qualidade de uma educação antirracista a necessária formação de educadores e educadoras. “Tem que ter formação continuada. Tem que dar subsídio para as escolas”, defende a professora Bárbara que é também autora dos livros Descolonizando Saberes: mulheres negras na ciência, finalista do prêmio Jabuti 2021, e História Preta Das Coisas: 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras.
Bárbara só vê futuro promissor da Lei 10.639 com investimentos: recurso em literatura negra, nas políticas de cotas, no processo de inserção de educadores e educadoras nos espaços escolares, no pensamento de que a formação educacional é para toda a comunidade educacional. “A formação antirracista precisa atravessar toda a estrutura escolar. Direção, coordenação, profissional da limpeza, portaria, merendeiras. Todo mundo precisa entender essa opressão estrutural que está ali no emaranhado das relações sociais dentro de um espaço escolar. O racismo sendo evidenciado o tempo todo”, declara.
Vanda lembra que o símbolo da negritude é Sankofa, e diz respeito ao conhecimento que está no passado, nas vivências da ancestralidade do terreiro. “A nossa história vem de antes da chegada do colonialismo que chega destruindo o continente africano. O nosso olhar, quando volta ao passado, nos projeta para reinados onde homens e mulheres viviam com dignidade”, declara.
Este é também o sentimento de Carine. “Potencializar a existência africana e indígena para além de um lugar estático no passado, mas compreendendo como um local dinâmico e de constatante rememoração desse passado para construção de um futuro emancipado para o nosso povo”, conclui.
Fonte: BdF Bahia
Edição: Gabriela Amorim



 577
577