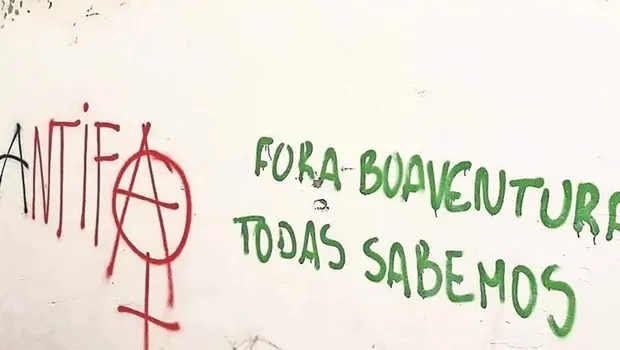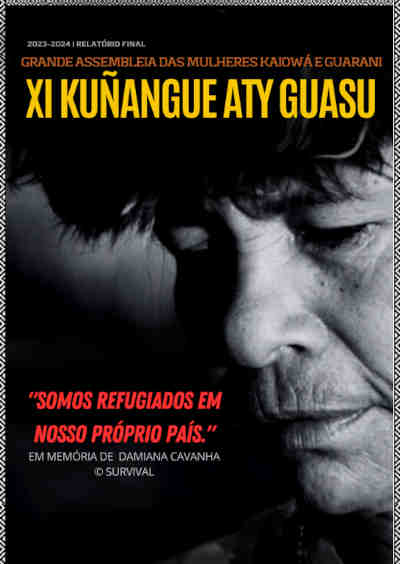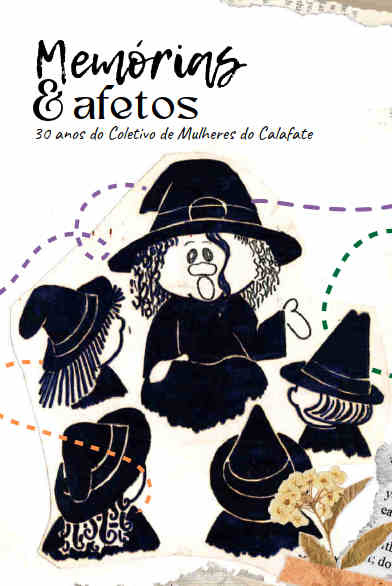Se, atualmente, ainda não há um contexto de equidade racial nas produções cinematográficas e audiovisuais realizadas no Brasil, em 1984, quando o longa Amor Maldito produzido por Adélia Sampaio foi lançado, a situação era ainda mais difícil.
Giovanna Carneiro, em 03/11/2023, 23:07. MARCO ZERO

“Algumas pessoas com quem eu trabalhei diziam ‘o dia em que você alisar o cabelo vai melhorar muito a tua vida’, mase eu respondia ‘então, meu amor, eu vou ficar na pior’”. Primeira diretora negra a produzir um longa-metragem no Brasil, Adélia Sampaio sempre soube da importância em assumir a identidade negra e exibir seu black nos sets de filmagens.
Se, atualmente, ainda não há um contexto de equidade racial nas produções cinematográficas e audiovisuais realizadas no Brasil, em 1984, quando o longa Amor Maldito produzido por Adélia Sampaio foi lançado, a situação era ainda mais difícil. Sem nenhum recurso ou financiamento a cineasta negra realizou a produção do filme inteiramente de modo cooperativo. “Eu realizei todos os meus trabalhos com um ajuntamento de pessoas porque eu acredito que cinema é isso: a arte do coletivo”, declarou Adélia.
Aos 13 anos, Adélia Sampaio teve o seu primeiro contato com o cinema e, desde então, conviveu com a certeza que um dia veria um filme seu exibido nas telas. “Eu queria fazer um filme, eu tinha certeza que era isso que queria fazer e falei isso para a minha irmã assim que terminou a sessão”, disse a diretora. A jornada até se tornar diretora foi longa e, no caminho, passou por diversas outras funções.
Em 1968, no Rio de Janeiro, Adélia Sampaio conseguiu um emprego como telefonista na Difilm, produtora que lançou grandes nomes do movimento Cinema Novo. O convívio com realizadores do cinema, como Glauber Rocha, influenciou o trabalho da cineasta negra, que passou a exercer outras funções na Difilm. Adélia foi maquiadora, continuísta, câmera, montadora e produtora, antes de chegar ao posto de diretora e realizar o sonho de fazer seus próprios filmes.
Sua estreia como diretora aconteceu em 1979 com o curta Denúncia Vazia. Entre as décadas de 1970 e 80, Adélia Sampaio dirigiu também os curtas Agora um deus dança em mim, Adulto não brinca e Na poeira das ruas.
Em 1982, a cineasta negra se tornou pioneira ao começar a dirigir e produzir o primeiro longa-metragem em toda a América Latina. A obra Amor Maldito é uma ficção baseada em fatos reais que retrata a relação amorosa entre duas mulheres, a executiva Fernanda e a ex-miss Sueli, que termina em tragédia, sucedida por um julgamento criminal repleto de falhas e preconceitos. Devido a todas as polêmicas que envolvem a trama, o longa foi rejeitado pela Embrafilme e, por isso, não pôde ser exibido e distribuído nas salas de cinema do Brasil. Adélia Sampaio precisou aceitar lançar o filme na categoria de pornô para que ele entrasse em cartaz em apenas oito cinemas de São Paulo.

Adélia dirigiu outros dois longas-metragens documentários: Fugindo do Passado (1987) e AI-5 – O Dia que não existiu (2001), em codireção com o jornalista Paulo Markun. Como produtora, Adélia participou dos filmes Parceiros da Aventura (1980), Ele, Ela, Quem? (1980) e O Segredo da Rosa (1974). Algumas das obras estão disponíveis no canal do Youtube da cineasta.
Agora, aos 79 anos, Adélia Sampaio segue produzindo documentários e viaja pelo Brasil em atividades de exibição e debate sobre as suas obras. “Eu acredito que o cinema tem que mostrar a realidade para as pessoas, causar impacto”, defende.
Em passagem pelo Recife, para participar da Mostra Sétima Arte Feminina em homenagem a sua carreira – que acontece até o dia 05 de novembro na CAIXA Cultural do Recife – Adélia Sampaio conversou com a Marco Zero Conteúdo sobre o pioneirismo de suas obras, a conjuntura do cinema brasileiro e o combate ao racismo.
***
Marco Zero Conteúdo – Como a primeira mulher negra a conseguir lançar um longa-metragem na América Latina, o que você tem a falar sobre as dificuldades que enfrentou e a diferença de tratamento entre pessoas negras e brancas na produção cinematográfica?
Adélia Sampaio – Bem, houve um apagamento dos meus trabalhos dentro da Cinemateca Brasileira. A instituição, literalmente, sumiu com todos os negativos e eu consegui resgatar algumas das minhas obras porque eu conhecia pessoas que tinham feito cópias, então é claro que isso é uma tentativa de apagamento mesmo da minha história. Para que acabar com os meus filmes, que eu fiz com tanto sacrifício? É óbvio que é uma questão de cor.
Quando eu vejo os comerciais, um negro vendendo um carro zero, é alucinante, porque eu vivi em 80 como produtora de um filme, eu vivi na carne o racismo. A gente tinha 80% de atores negros no elenco da produção e a Embrafilme mandou me chamar e disse ‘não, você não pode, você tem que diminuir esse percentual porque preto não vende’ e eu respondi ‘mas como que preto não vende? A Chica da Silva não vende?’. Quando saiu o resultado do recurso, nossa produção foi contemplada, mas éramos o menor orçamento, mas pelo menos brigamos e conseguimos, e é isso, temos que brigar para conseguir cada vez mais financiamento.
Claro que as dificuldades existem, porém eu faço sempre um discurso prático, eu fiz cinema a minha vida inteira, então é isso que eu quero: que outras pessoas semelhantes a mim possam fazer e a gente vai conseguindo alcançar os espaços, a gente está se fortalecendo, a gente diz por que veio. Eu espero tudo de uma forma sempre muito positiva, como positiva eu levei a vida, com todos os percalços, com todas as tentativas de apagamento da minha história, eu sigo em frente porque eu sempre acho que atrás vem gente.
Como era viver no set nas décadas de 1970 e 80 sendo uma das poucas, quiçá a única, mulher negra naquele ambiente?
Eu só queria fazer cinema e tinha o sonho de conseguir isso, então eu acabei arrumando um emprego na Difilm como telefonista porque assim eu estaria perto do cinema e de quem fazia o cinema. Só depois eu descobri que era uma empresa do Cinema Novo, aí eu conheci o Glauber Rocha e tive uma convivência direta com ele e com outros diretores. Então, eu fiz um curso de continuísta, o primeiro set que eu frequentei foi para ser continuísta, porque naquela época mulher era continuísta, maquiadora ou claquetista, três funções que não tinham a menor importância e eu fui realmente a primeira mulher negra que se enfiou lá no set, mas o set era todo composto pelos negros, que a gente chamava ‘o pessoal da pesada’. Todo mundo dizia, ‘não pode dar o cargo de diretora de produção para uma mulher porque o pessoal da pesada não vai receber ordem de mulher’. Só que aí, depois de fazer curso de maquiadora, eu fui chamada para comandar a produção de um filme do Alcino Diniz, e eu já conhecia o pessoal, a maioria morava na Baixada, no subúrbio, eram pessoas queridas.
E aí, toda vez que eu chegava no set e dizia, ‘olha o almoço está pronto’, o Alcino dizia assim ‘vamos rodar um planinho aqui, depois vocês vão almoçar’. Até que um dia eu cheguei no set e o Walter, que era o eletricista-chefe disse que os técnicos estavam almoçando muito tarde, e eu respondi ‘vocês estão comendo tarde porque querem, o negócio é o seguinte, quando eu chegar falando que o almoço tá pronto e o homem pedir pra fazer mais um plano você desliga a luz e pronto, se você fizer isso você ganha a minha confiança’. E no outro dia eles fizeram isso e eu percebi que tinha uma ligação com os técnicos, tinha um respeito entre a gente.
Daí em diante eu comecei a defender a tese de que o eletricista e o maquinista eram pessoas importantes do set e, por isso, precisariam ter acesso ao roteiro também. Foi uma confusão! Naquela época, era mimeógrafo, fazer cópia era caro. Os produtores ficaram com ódio de mim, acharam que era uma invenção de uma maluca, porque naquela época uma mulher andando pelo set exibindo um black não era levada a sério.
A partir disso eu comecei a conversar sobre a possibilidade da gente inaugurar um sindicato de técnicos do cinema e a gente conseguiu fundar, até hoje ele existe. Com isso, eu acabei sendo eleita ‘a rainha da pesada’ e a ‘pesada’ deixou de ser uma coisa pejorativa e passou a ser uma coisa muito legal para os técnicos, eles passaram a ter consciência da importância do que eles faziam para o cinema.

Você falou em uma outra entrevista que nós avançamos em termos de consciência negra, mas ainda não chegamos lá. O que falta para que essa conscientização aconteça de forma mais incisiva?
Hoje as emissoras estão inserindo atores e personalidades negras, isso é muito bom porque o negro se vê na tela e ele percebe que pode ser mais, então isso é importante, traz um alívio para quem brigou tanto para ocupar esses espaços. Mas eu acho que falta um discurso mais direto.
Por exemplo, nós estamos vivendo agora a questão de Israel que está brigando com a Faixa de Gaza, mas o povo esqueceu que Israel nunca existiu, eles invadiram um território e viraram um país, entendeu? Se você trouxer para o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui os indígenas já estavam aqui e depois vieram os negros, então essa terra é mais do indígena e do negro do que do branco, e isso não precisa estabelecer um conflito como tem acontecido em Israel, mas é necessário que cada pessoa de cor tenha noção disso e precisamos acabar com esse negócio de ‘eu sou pardo, eu sou mulata’, tem preto, branco e amarelo, e ponto.
A gente tem que ter consciência e falar sobre isso sempre, entendeu? Pegar um menino que está entrando na emissora que é preto e e dizer para ele, ‘olha, não tripudie, para você estar aí muita gente já foi tripudiado, então, o que você tem que fazer é convocar a sua turma para invadir esse espaço porque esse espaço também é do negro’. Precisamos conversar com a meninada e mostrar para eles qual é a força que cada um deles tem.
Atualmente você tem participado de diversas atividades que aproximam o público das suas obras. Para você, qual a importância de eventos de cinema como esse, mostras, cineclubes, que aproximam o cinema do público?
O cineclube da minha geração era o chamado formador de plateia, era um jovem que montava um cineclube na sua escola e, ali, fomentava o desejo e a vontade de assistir e fazer cinema. Todo o meu processo tem relação com isso porque, na década de 1980, Luiz Carlos Barreto, o famoso Barretão, me convidou para cuidar dos cineclubes, então, eu tinha que pegar os filmes, levar até os estudantes e depois tinha que conversar sobre as obras e era muito bom, porque não é apenas assistir, é a importância do debate também. E claro, tinham também muitos cinemas de rua, que eram fundamentais para aproximar o público das obras, na minha época, a gente comprava uma entrada e podia passar o dia inteiro no cinema, e assim podíamos assistir e reassistir a obra, hoje em dia não, se a sessão terminar e você não tiver entendido nada do filme fica por isso mesmo. Além disso, as salas de cinema foram diminuindo, na década de 1960 nós tínhamos salas que comportavam 700 pessoas, hoje é tudo micro, por isso é fundamental estarmos sempre brigando pelo cinema para que essa arte se mantenha viva.

Ouvindo você falar sobre brigar pelo cinema me faz lembrar que aqui em Pernambuco diversos realizadores do cinema e da cultura estão brigando com o Governo do Estado pela reabertura do Cinema São Luiz, que está fechado há meses…
Eu acho que, ao invés de fechar o cinema, os governantes deveriam criar eventos que possibilitassem a manutenção da estrutura do cinema. O prédio, o espaço do cinema pode ter mil e uma utilidades, não precisa ser só a exibição de filmes, sabe? Criem eventos de música, teatro, dança, porque o cinema ocupa apenas um determinado horário do prédio e há muitas outras horas ociosas que podem ser muito bem utilizadas pelas pessoas, essa é a dica que eu daria para a governadora manter o cinema de portas abertas e em funcionamento.
E como você vê o atual cenário do cinema brasileiro, em termos de financiamento e possibilidades de produção e ganho para os realizadores?
Bom, nós tínhamos um órgão chamado Embrafilme e ele não existe mais, um financiamento que vinha direto do governo, nós tínhamos a lei do curta, que determinava que você ficava com o percentual da renda do filme estrangeiro para o seu curta, mas isso também não existe mais. Então, foram caindo as coisas que deveriam garantir uma remessa de lucro. Então, não adianta a gente pegar a lei do Paulo Gustavo, porque são coisas que não tem grandes dotações, na verdade, quem tem que comandar a verba e o dinheiro para o cinema e toda a atividade cultural do país é o governo.
A gente ficou mais de cinco anos brigando até conseguir ter a Embrafilme, um órgão tão potente, tão forte, que quando houve a eleição do Collor, ele acabou com a Embrafilme e declarou que iria acabar com a Embrafilme porque o pessoal de cinema não votou nele e ainda fazia campanha contra. A partir dali não aconteceu mais porque não existe, vamos dizer assim, aglomeração em torno de uma ideia, o que no passado existia quando surgiu o Cinema Novo.
Eu realizei todos os meus trabalhos sempre com um ajuntamento de pessoas porque eu acredito que o cinema é a arte do coletivo, se não for assim você não consegue realizar nada. Você não faz uma ideia de um filme isoladamente você tem que ter uma rede de pessoas e pensamentos em torno da sua ideia.
Você continua na ativa produzindo filmes e viajando o Brasil para divulgar as suas obras. Conta um pouco sobre os seus planos para o futuro e os próximos trabalhos.
Eu tenho viajado bastante para falar do meu trabalho, acho que antes da pandemia eu viajei quase o Brasil, pelo projeto SESC, e foi muito bom porque depois veio a pandemia e eu fiquei quieta em casa.
Eu acho que a gente tem que brigar mesmo por exibição para mostrar para as pessoas trabalhos relevantes como Amor Maldito, que é uma obra importantíssima onde eu falo da violência doméstica, que é uma coisa que ainda está aí na latência, falo da questão da homossexualidade e de como as relações de abuso e poder se entrelaçam.
E eu continuo filmando, meu último trabalho é um curta que foi finalizado há uns seis meses e se chama O olhar dos anos 60, que fala da minha geração, uma geração fantástica, que protagonizou muitas revoluções, que era muito inquieta, e que infelizmente foi devastada e atropelada pela ditadura e também pela AIDS, então, no filme eu tento mostrar isso, como uma geração tão alegre e enérgica acabou se tornando uma verdadeira tristeza coletiva.



 299
299