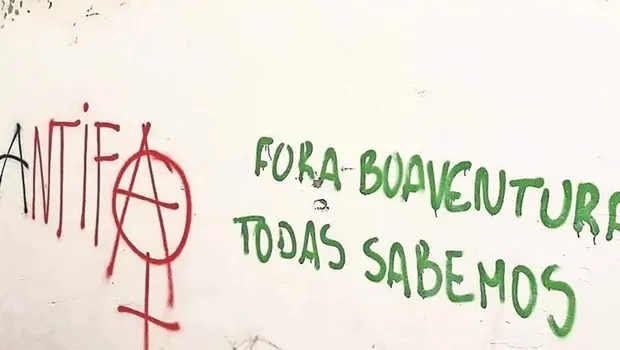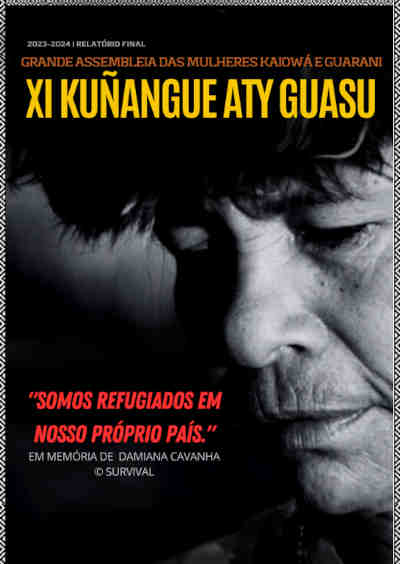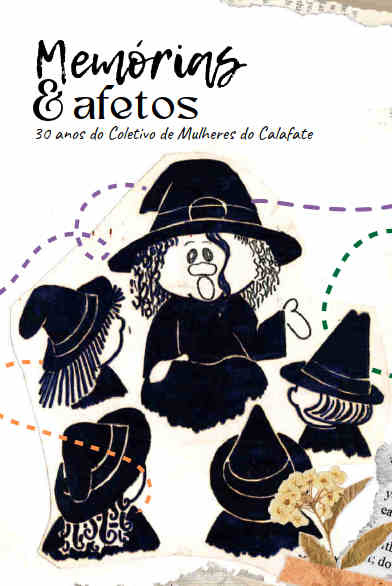'O cárcere não resolve conflitos; ao contrário, os reproduz', diz a advogada sobre urgência do feminismo anticarcerário

Atualmente Alicia Merino vive na Espanha, seu país de origem, e integra os coletivos Oteando e Sin Poli - David Aguilar Sánchez
"Primeiro, o feminismo me levou às prisões, as prisões ao abolicionismo e, a partir daí, a unir feminismo e luta anticarcerária", resume a advogada, pesquisadora e ativista espanhola Alicia Alonso Merino. No livro Feminismo anticarcerário: o corpo como resistência, agora publicado no Brasil, Alicia argumenta que as lutas por igualdade de gênero e pela abolição das prisões devem estar conectadas, mas não só.
Em sua visão, além de uma máquina de confinamento e tortura, o encarceramento é também um instrumento para reforçar papeis de submissão para mulheres e dissidentes. No cárcere, espaço em que a autonomia da pessoa é subtraída, o corpo se apresenta como a principal forma de expressão da dor e, também, da resistência.
Quando há duas décadas, aos 35 anos, começou a mediar oficinas de prevenção à violência de gênero dentro de prisões femininas, Alicia já acumulava anos de experiência em coletivos feministas de Valladolid, cidade onde nasceu.
"Entrar na cadeia me fez ver todo o abandono das mulheres pelo sistema, as discriminações, o fato de não serem levadas em conta. Então passei a denunciar isso, trabalhando com distintas organizações", conta.
Atualmente, Merino integra o coletivo Oteando (Observatório para a defesa de direitos e liberdades), que atua contra regimes de isolamento dentro das prisões, como é o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) no Brasil. E também o Sin Poli, que luta contra a violência policial e por formas de lidar com conflitos que não passem pelo acionamento de forças de segurança do Estado.
Alicia morou na Argentina, no Chile, na Itália e recentemente voltou à Espanha. Por onde passa, se envolve com organizações de defesa dos direitos humanos e das pessoas e, em especial, das mulheres presas. Segundo ela, a inutilidade da prisão para responder aos conflitos sociais é comum a todos os países. "O cárcere produz muitos danos sociais e pessoais e não resolve nenhum dos problemas pelos quais as pessoas estão ali dentro", conclui.
Confira na íntegra a entrevista cedida ao Capire e ao Brasil de Fato, na sede da Sempreviva Organização Feminista (SOF), em São Paulo.
Brasil de Fato e Capire: Qual a relação entre as lutas feministas e anticarcerárias? Por que você considera que, nesta intersecção, o corpo é central?
Alicia Alonso Merino: O cárcere te tira toda a autonomia. Na prisão, está tudo regulado. Ela te infantiliza. Você não pode decidir nada, nem a hora que se levanta, nem a hora que você pode falar no telefone, a hora que se banha, a hora que come. Tem que pedir permissão para tudo. Quando não temos autonomia para nada, o pouco que nos resta é o próprio corpo. E é com o corpo que muitas mulheres expressam sua dor. Se cortando, por exemplo. Muitas vezes para aplacar uma dor maior, como estarem afastadas do que entendem como seus deveres de cuidado, afastadas das crianças, precisam sentir uma dor física para calar a dor da alma.
Muitas vezes, o único instrumento de luta política para chamar a atenção é a greve de fome. O corpo se torna um lugar de resistência. Então uma das críticas que fazemos ao sistema carcerário é que, como feministas, queremos autonomia sobre a nossa vida e nossos corpos.
Isso é feito ativamente por meio do que chamam de programas de reeducação, que muitas vezes reproduzem os papéis de gênero, com cursos de cabeleireiro, limpeza e hotelaria, para que, ao sair, continuemos com nossos papéis. E é feito também por meio das sanções, quando as presas desobedecem.
A pesquisa que fiz tem a ver com a política de sanções. As mulheres presas são proporcionalmente mais castigadas que os homens, mesmo que os perfis criminológicos sejam totalmente diferentes. As mulheres presas, em geral, cometem delitos de pobreza. Raramente têm violência, são microtráfico e roubos em sua maioria. Têm a ver com a situação econômica. Se poderia pensar que são muito mais perigosas porque são mais sancionadas, mas o que acontece é que o sistema também é patriarcal, então tolera menos a desobediência delas do que a deles.
Vejo o sistema prisional como uma correia de transmissão dos sistemas de opressão. Há uma sobrerrepresentação de mulheres racializadas, da diversidade e de indígenas. Isso tem a ver com a seletividade penal, com o populismo punitivo.
Quais as semelhanças e diferenças do sistema prisional no Norte e no Sul global?
Vejo que é o mesmo. As diferenças são estéticas, podemos dizer. São importantes, porque são as condições materiais que fazem com que haja mais superlotação, mais violência, mais prisões preventivas. Mas em todas as partes do mundo se encarcera a pobreza e há sobrerrepresentação de populações majoritárias que são tratadas como minorias. Isso é geral em todo o mundo. No Estado espanhol, por exemplo, a maioria das mulheres presas são imigrantes e ciganas, que são mulheres racializadas. No Brasil, há maioria de mulheres negras.
Também é geral em quase todo o mundo que a maioria está presa por dois delitos: microtráfico e crimes contra a propriedade. É geral uma superproteção ao direito de propriedade, que tem a ver com as origens dos códigos penais na França de 1800 e logo foram copiados no resto do mundo. Era um momento em que a propriedade deveria ser protegida de forma forte e quem criava essas leis eram os que tinham o poder para aplicá-las aos outros, nunca a eles próprios. De certa forma, isso não mudou.
Cárcere é cárcere em qualquer lugar: gera dor, separa famílias e não resolve os conflitos sociais. Ao contrário, reproduz as desigualdades e as opressões.
Você é espanhola, esteve no Chile, na Argentina, na Itália. Quais movimentos antiprisionais você considera interessantes nesses lugares?
O que mais me interessa e que admiro são os movimentos de feministas anticarcerários da América Latina, que são diferentes grupos em distintos países. Agora estão em uma rede e fizeram há pouco tempo um encontro no Equador. Há mulheres do Chile, Argentina, Colômbia, Equador, México.
São mulheres que começaram trabalhando dentro das prisões fazendo oficinas feministas. O que fazem é diluir os muros que separam o dentro e o fora. As companheiras que saem acabam se integrando a essas organizações, então, não são as de fora que trabalham com as de dentro, mas uma união de diferentes realidades que acabam derivando na luta anticarcerária. Acredito ser uma das coisas mais interessantes e que admiro muito.
Há pequenas redes na Itália, como o movimento "Não prisão". No Estado espanhol, estamos agora tentando construir uma rede antipunitivista e há grupos anticarcerários que trabalham denunciando as condições das pessoas presas. É muito difícil articular uma rede entre esses grupos.
E o fato é que o feminismo anticarcerário é composto por duas palavras que são muito incômodas para o movimento feminista mais institucionalizado e também para o movimento anticarcerário, onde por vezes a palavra "feminismo" gera ruídos. Então é complicado, essas duas palavras juntas geram certa resistência, mas são também uma provocação.
Você argumenta que, para lutar contra o sistema penal e a cultura do castigo, não basta abolir as prisões, sendo preciso pensar em formas preventivas ou transformadoras de justiça. Pode comentar exemplos de experiências que considera interessantes?
Por um lado, trata-se de trabalhar para reduzir ao máximo a prisão, com propostas vindas da rede de desencarceramento, abordando os quatro pilares que sustentam o sistema prisional: cultural, legal, político e econômico. Acredito que o pilar cultural seja o mais complicado, pois está enraizado na cultura do castigo que temos tão internalizada e que nos leva a recorrer à polícia diante de qualquer problema. Está também nessa sensação de vingança e de punição que temos profundamente inculcada.
Há também as propostas da justiça transformadora ou transformativa, que estão ligadas à construção comunitária. Em sociedades muito individualistas, é necessário construir comunidades fortes que sejam responsáveis pelos conflitos. Que não se viva o conflito como algo individual, mas sim como responsabilidade de todos pelo dano gerado e pela resposta necessária. Que se crie também a segurança para que a pessoa que sofreu um dano se sinta segura e com garantias de não repetição.
Na justiça comunitária dos povos originários – sem idealizar, mas sim buscando elementos que podem ser resgatados, especialmente na América Latina – existem experiências muito interessantes de auto-organização e resposta comunitária. Por outro lado, há a justiça transformativa, que tem experiências sobretudo nos Estados Unidos, onde comunidades fortemente criminalizadas e reprimidas não podem recorrer à polícia, pois esta as criminaliza. Então, essas comunidades tiveram que encontrar formas de resolver seus conflitos e os danos sociais.
Como você vê a movimentação pela privatização das prisões nos últimos tempos? Qual a relação entre cárcere e neoliberalismo?
Há quem seja especialista em analisar o complexo industrial-militar-prisional nos Estados Unidos e como eles fizeram disso um negócio que os levou a ser o país com o maior número de pessoas presas. Manter as pessoas encarceradas é um negócio, o que é uma aberração.
Mas a relação entre o capitalismo e o cárcere remonta ao próprio início da história das prisões. Há alguns autores italianos, Melossi e Pavarini, que têm um livro chamado Cárcere e Fábrica, em que eles falam sobre como as prisões surgiram para disciplinar as massas de vagabundos, pessoas que não faziam nada e que, por meio da solidão e do trabalho, poderiam ser "reformadas" para se tornar "bons cidadãos". No caso das mulheres, essa origem também está marcada pela religião, com a gestão das prisões femininas sendo realizada por ordens religiosas.
Essa docilização visava ensinar ofícios domésticos para que as mulheres pudessem ser fiéis e boas servidoras da burguesia e das elites locais por meio da oração e do trabalho. Desde o começo, há uma relação estreita com o capitalismo, como uma forma de disciplinar as massas trabalhadoras, e hoje se tornou um negócio, com muita gente ganhando dinheiro com as prisões – não apenas aqueles que trabalham diretamente nelas, mas também juízes, advogados e empresas que lucram com o trabalho semiescravo realizado nas prisões.
Qual banco administra o pecúlio? O pecúlio é o dinheiro dos presos, que não usam dinheiro em espécie, mas têm uma espécie de conta, com um banco administrando tudo isso. Qual é esse banco? No Estado espanhol, é o banco Santander. Há também o monopólio das chamadas telefônicas e da venda de produtos dentro da prisão. Existem empresas que lucram com tudo isso. Não segue o modelo de complexo industrial-militar dos Estados Unidos, mas também é um negócio para muitas pessoas.
Não há como falar atualmente de prisões sem falar da Palestina e dos ataques brutais de Israel e suas várias formas de prisões, perseguição e violações de direitos humanos. Gostaríamos que comentasse sobre isso.
Antes de 7 de outubro do ano passado, a situação já era terrível em todos os níveis. Primeiro, porque os palestinos não têm as garantias judiciais do resto das pessoas cidadãs em Israel. São perseguidos, detidos e julgados por militares, tratados em cortes militares, mesmo sendo civis.
O Grupo de Detenções Arbitrárias da ONU determina que civis não podem ser julgados por militares. Essas detenções, além de administrativas, baseadas em leis da época da colônia britânica, são também arbitrárias. Há milhares de pessoas em detenções arbitrárias na Palestina, e que, além disso, são removidas de seus lugares de origem e levadas para prisões no que hoje se chama de Estado de Israel. Isso viola todos os padrões internacionais que dizem que não se pode transferir pessoas de seu território. Viola a 4ª Convenção de Genebra. Então, Israel está permanentemente violando os direitos humanos das pessoas que detém na Palestina.
Desde 7 de outubro do ano passado, tudo piorou. Está evidente que um povo inteiro está sendo exterminado sem haver pressão internacional. Israel também não permite a entrada da imprensa internacional. Pelo pouco que sai, vemos que há campos de concentração. Fala-se de milhares de pessoas "sequestradas" por Israel, não sabemos em que condições. Algumas fotos mostram uma espécie de "guantánamos', como estão sendo chamados.
As condições dos presos, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, pioraram. Estão encarcerando de forma indiscriminada. Se antes havia uma política de negligência médica, agora isso se intensificou. Pessoas estão morrendo por falta de atendimento. Algumas estão feridas e, encarceradas, são deixadas para morrer, o que passa impune. Além disso, há maus-tratos, agressões sexuais, superlotação e falta das mínimas condições de vida. Antes já era grave, já era denunciável. Mas agora a situação piorou alarmantemente. Precisamos continuar falando sobre a Palestina porque querem apagar a Palestina do mapa.
Que respostas dar a essa situação, a partir do feminismo e da luta anticarcerária?
Somos conscientes de que, para abolir as prisões, o direito penal e a cultura do castigo, se supõe uma abolição do mundo como o conhecemos. Construir outro mundo. Não há outro remédio para seguir adiante além de nos implicarmos nessa denúncia. É tão aberrador, tão impune o que está acontecendo, que não podemos ficar caladas. Como feministas anticarcerárias, anticolonialistas, antirracistas, temos que nos implicar igualmente nessa luta contra a colonização e o sionismo.
Edição: Thalita Pires




 648
648