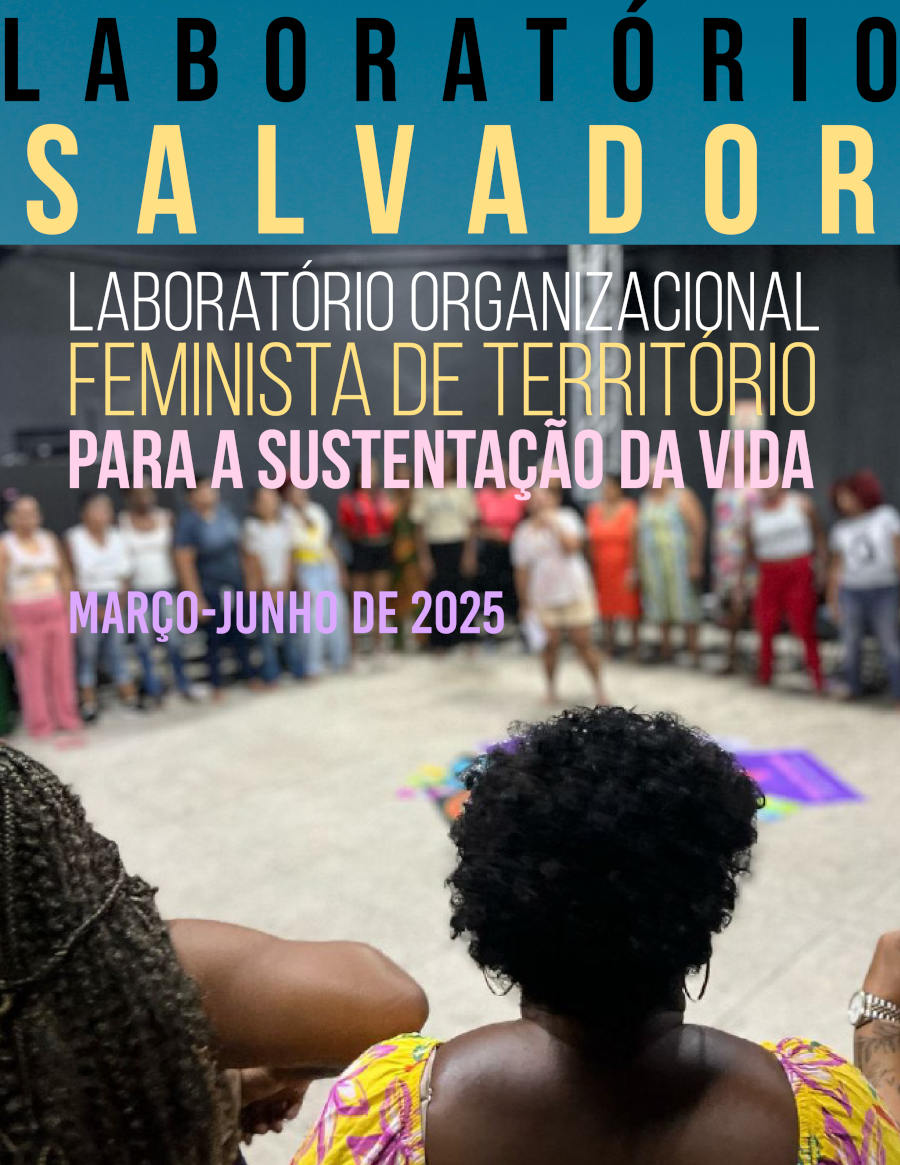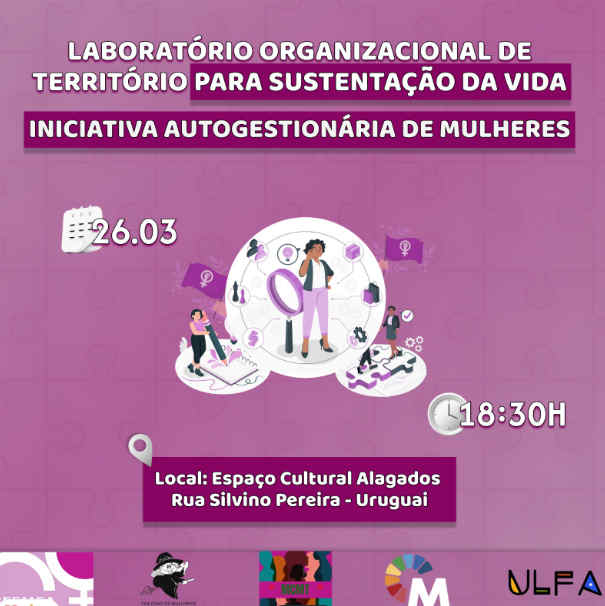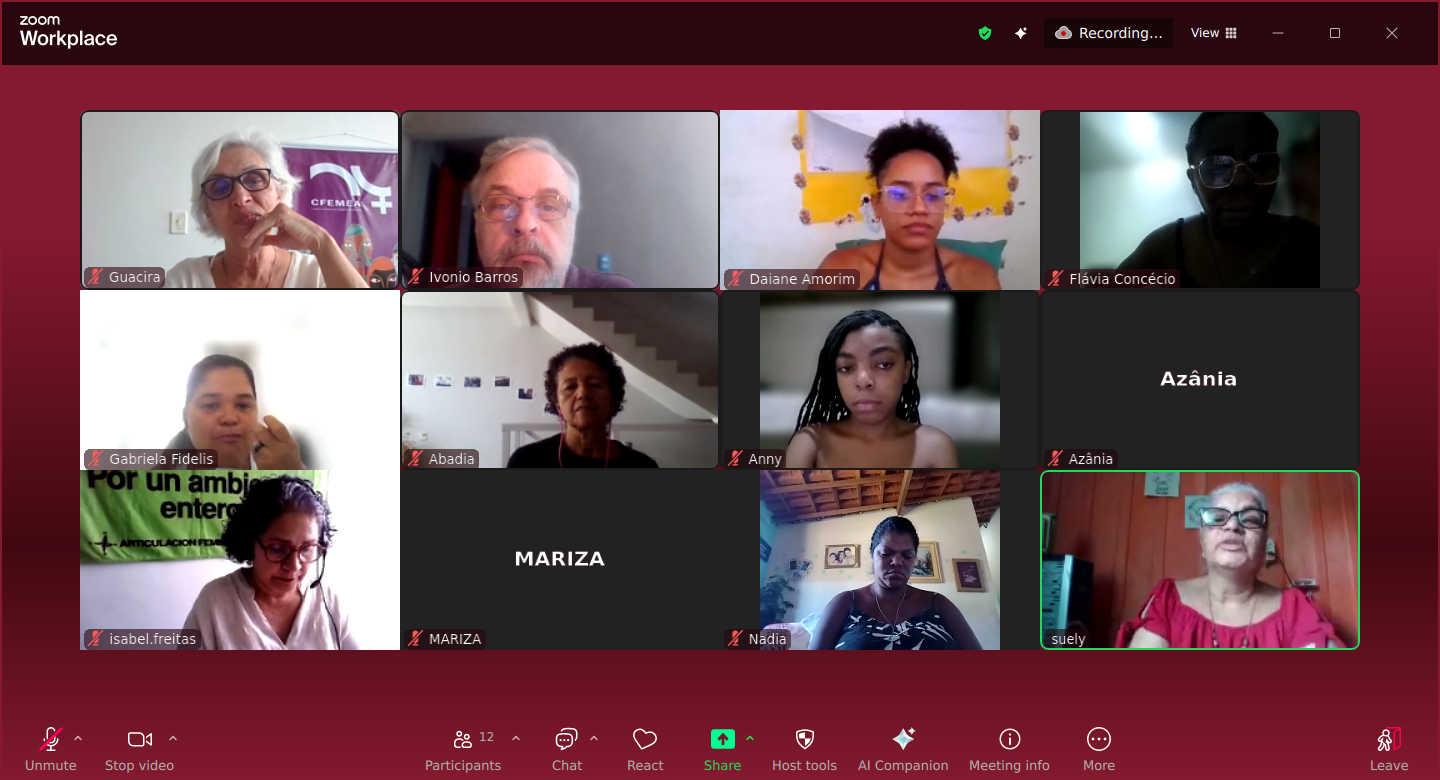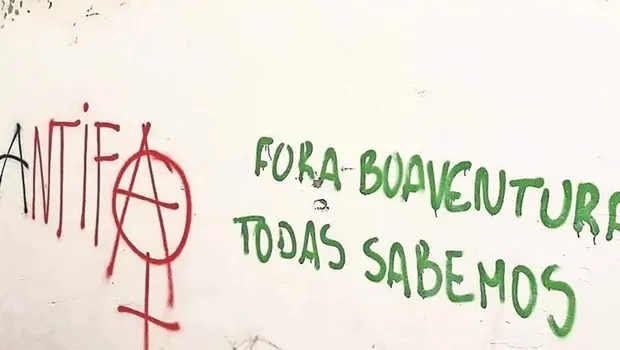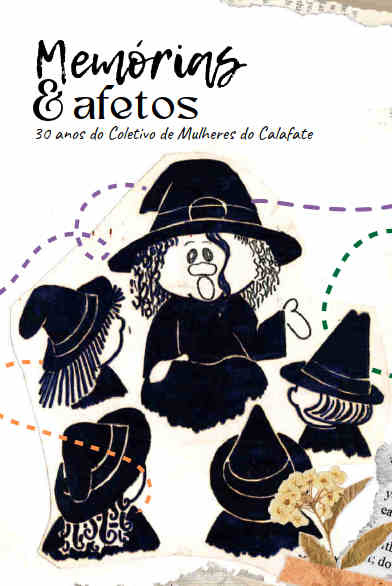Em Gaza, Netanyahu monta seu Auschwitz. Washington e Paris são cúmplices. A mídia esconde o contexto do conflito, para pintar as vítimas como “terroristas”. Mas a desumanização não passará, enquanto David (hoje palestino) resistir a Golias
Publicado 13/10/2023 às 13:59

A imprensa repete: “Nada justifica matar civis!” para se referir aos ataques do Hamas nos últimos dias. Eu concordo. Mas por que Israel nunca foi condenado e exposto a um massacre midiático por seus crimes contra os civis palestinos? A cobertura sionista tem uma estrutura que se repete: corte cirúrgico para os fatos dos últimos dias. Negam-se a fazer qualquer reflexão, qualquer enquadramento mais amplo. O objetivo é claro: isolar os atos de um contexto anterior que o determina. E ao fazê-lo, o caminho está aberto para a patologização e a criminalização dos palestinos. Ou seja, mediante a absolutização do caso, se preserva a estrutura política, no caso, o colonialismo israelense.
Ainda assim, não há como escapar de alguns dados: 70% da população dos dois milhões e trezentos mil habitantes de Gaza, a maior prisão do mundo, é formado por refugiados. O que isso significa? O Estado de Israel as obrigou a deixar suas casas, as expulsou e as entregou para colonos sionistas. Vamos tentar ligar as pontas, tentar contar uma história. Só existem milhões de palestinos refugiados porque há uma política continuada de colonização e genocídio por parte do Estado de Israel.
O drama do povo palestino não começou há uma semana. São 75 anos de perambulação. A ONU já determinou o direito dos palestinos que tiveram suas casas roubadas por Israel, em 1948, a voltarem para suas casas. Essa e tantas outras Resoluções da ONU são letras mortas para um Estado que trata o povo palestino como barata, como lixo. Matar civis configura-se com ato terrorista, foi isso que aprendemos ao longo dessa semana. Se Israel tem matado civis palestinos há 75 anos, não nos resta outra alternativa que uma conclusão lógica: Israel é um Estado terrorista. Agora mesmo está cometendo um crime de guerra, nos termos das leis internacionais, ao punir coletivamente a população de Gaza. Para o Estado de Israel, no entanto, “palestinos” e “civis” são termos que não se encontram, são como água e azeite. Os israelenses são civis, têm vidas que merecem viver, os palestinos… bem, como disse Ayelet Shaked, ex-ministra da Justiça israelense, são “pequenas cobras”, para se referir às crianças palestinas.
Não tenho dúvida: se alguém viver um dia, apenas um dia, como um palestino, seja em Gaza ou na Cisjordânia, se colocará a mesma questão que me perseguiu naquele inverno de 2017: como esse povo suporta? Eram 5 da manhã e a fila para atravessar o controle militar israelense era enorme. São quase 800 quilômetros de muro de concreto, com 8 metros de altura. Trabalhadores/as que se amontavam em currais de metais para serem submetidos/as a mais um ritual de humilhação; do outro lado, o escárnio nos rostos dos/as soldados/as. Um senhor, diante da minha perplexidade e do meu choro, me fez um pedido: “Conte ao mundo o que você está vendo”.
É impossível entender a erupção da fúria dos palestinos no último final de semana sem contextualizá-la em marcos mais amplos. Nas revoltas das pessoas escravizadas aqui no Brasil, era comum o assassinato do senhor, da família e do feitor. Os jornais dos senhores escravocratas da época, antecipando o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmavam: “Estamos lutando contra animais e agindo de acordo”. Na mesma entrevista em que fez o diagnóstico da “não-humanidade” do povo palestino, o ministro Gallant determinou o “cerco total” à Faixa de Gaza: punição coletiva. O único direito que o oprimido tem é não ter direito. Mas a fúria chega. Será que os dominadores não aprenderam nada com seus crimes e fracassos? O mantra sionista de que a palestina era uma terra sem povo, transformou-se em estratégia política. Assim tem sido desde 1948: expulsar, matar, torturar, apropriar-se das vidas e dos bens palestinos.
As condições objetivas para produção da fúria foram sendo gestadas diariamente por Israel. E, como uma barragem que está cheia de rachaduras no interior, mas que não aparece na dimensão externa, rompeu. Com ela, vemos emergirem todos os senhores e senhoras escravocratas. Apenas o/a senhor/a tem direito de vida. E os animais-palestinos? Morte total. O processo de desumanização do povo palestino repete a mesma estrutura responsável pela manutenção de seres humanos na escravidão: não são pessoas, são animais, são terroristas. E aqui está o motivo pelo qual a imprensa não fala, não televisiona, não entrevista as mães que perdem seus filhos, suas crianças, para o terror israelense: não são seres humanos. Não tenho dúvidas de que se fosse possível para as mães brasileiras (principalmente aquelas que perdem seus filhos executados pelo terror do Estado brasileiro), olharem nos olhos das mães palestinas, elas diriam “eu também sou palestina”.
Não entenderam nada do sentido da fúria do/a oprimido/a? Quantas intifadas serão necessárias para que o mundo ocidental e Israel entendam que o povo palestino não irá desistir, que o pulso ainda pulsa? Quando um palestino diz: “eu não aguento mais”, não é voz uma isolada. São gerações que falam, são ecos que chegam ao presente, é o passado tornando-se “agora”. Então, não nos peçam o impossível. Nós, apoiadores da luta palestina pelo direito ao retorno dos/as refugiados/as às suas terras e à autodeterminação, seguiremos contando a história da mais longa ocupação militar da história moderna, seguiremos fazendo o passado falar no presente.
Me recuso a discutir o Hamas sem enquadramentos históricos mais amplos. Me recuso a fazer um recorte histórico que aponta Netaniyahu como o princípio do mal absoluto. A solução parece simples: bastaria eleger um israelense de esquerda e a situação do povo palestino seria resolvido. O atual governo não é antítese dos anteriores. Ele não existiria sem a Plano Dalet, sem Levi Eshkol Shkolnik, sem Golda Meir. Os assentamentos ilegais não foram uma invenção de Benjamin “Bibi” Netanyahu. Nada nele é original. Tudo é cópia e continuidade.
Ilan Pappé, um historiador israelense, concluiu: “depois do início da Operação ‘Chumbo Fundido’, em 2009, optei por chamar à política israelita ‘genocídio gradual’”. O respeitado jornalista israelense Gideon Levy, do Haaretz, afirmou em 8 de outubro de 2023: “Pensávamos que tínhamos permissão para fazer qualquer coisa, que nunca pagaríamos um preço, tampouco seríamos castigados. Prendemos, matamos, maltratamos, roubamos, protegemos colonos massacradores, disparamos em pessoas inocentes, lhes arrancamos os olhos e destruímos seus rostos, os deportamos, confiscamos suas casas, terras, saqueamos, os sequestramos em suas camas e praticamos uma limpeza étnica…”.
A fúria desses últimos dias foi alimentada com os banhos de sangue dos massacres de Tantura, de Deir Yassim, Dawayima, de Sabra e Chatila, pelos gritos dos 800 mil palestinos expulsos de suas casas. Teve a presença das almas dos que perderam suas vidas nos 31 massacres que acontecem em 1948, dos moradores das 511 aldeias destruídas para construir casas para os colonos sionistas. A fúria tem o sangue que jorrou da cabeça da jornalista Shireen Abu Akleh, da morte dos 230 palestinos civis esse ano, da morte de 2.410 civis em 2014 em Gaza. O mundo ocidental já perdoou Israel. Mas os crimes contra civis não são imperdoáveis? A fúria, ao contrário, do que os sionistas querem, não é algo desumano. É o não-inteligível na gramática do colonialismo. Fúria é aquilo que senti naquele checkpoint em Qalandia e que tive uma vontade imensa de, aos berros, com pulso para o alto, clamar por “Free Palestina!”. Afinal, não gritei, fiquei com medo. Mas, sigo contando o que vi. Eu vi o terror diante dos meus olhos.
BERENICE BENTO
Por que eles precisam da guerra
Novo livro revela um país viciado em agressões. Produção incessante de conflitos não é acidente – mas o centro da diplomacia e da própria política interna dos EUA. E Israel joga papel decisivo na dinâmica da militarização permanente

Por Jonathan Ng, no TruthOut | Tradução: Antonio Martins
Em junho, a jornalista suíça Maurine Mercier encontrou diversos cidadãos dos Estados Unidos lutando na Ucrânia sob a fachada de “trabalho humanitário”. “Todos eles são veteranos, ex-soldados que combateram em todas as recentes guerras americanas: a Guerra do Golfo, o Iraque, o Afeganistão”, relata ela. Muitos sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, carregando os fantasmas incorporados de conflitos passados e feridas psíquicas profundas.
Um veterano entrevistado por Mercier admite ser viciado em combate, lançando-se em missões suicidas na linha de frente. Ele já matou 13 pessoas na Ucrânia. A proximidade da morte permite que se sinta vivo, o choque de adrenalina o leva a “esse belo espaço escondido”, onde “as cores são mais brilhantes” e os sons são “diferentes, vibrantes”. Em casa, ele não sente um senso de pertencimento. Mas na Ucrânia, “há algo”.
Em um nível fundamental, esses guerreiros sem rumo são o símbolo de uma sociedade viciada em guerra. Eles refletem as tensões que o autor e ativista anti-guerra Norman Solomon desvenda em seu brilhante novo livro, “War Made Invisible”, que examina as causas profundas e os custos da intervenção dos EUA. Solomon oferece uma estrutura poderosa para entender crises geopolíticas, bem como os custos invisíveis, mas duradouros, do militarismo.
Enquanto a guerra na Ucrânia continua, Solomon destaca três facetas subjacentes do poder dos EUA especialmente úteis para interpretar o momento atual: uma intelligentsia incorporada, uma economia que exporta violência e a infraestrutura de um império global.
Mobilizando Mentes
O livro de Solomon revela a proximidade perturbadora entre a classe dominante e a mídia corporativa desde a Guerra do Vietnã, revelando como o “quarto poder” sustenta as suposições que tornam a intervenção possível na Ucrânia e em outros lugares. “A essência da propaganda é a repetição”, argumenta ele. “As frequências de certas suposições misturam-se em uma espécie de ruído branco”, condicionando o povo dos EUA a apoiar operações militares que ele nunca vê ou de fato entende.
Isso nunca foi mais claro do que durante a invasão do Iraque em 2003. Oficiais na coalizão militar liderada pelos EUA preocupavam-se em privado, com o risco de os jornalistas perceberem que não tinham “nenhum ‘fato matador’” que “provasse a necessidade de confrontar Saddam [Hussein]”. No entanto, o New York Times ecoou afirmações falsas de que o Iraque possuía armas nucleares e aplaudiu ativamente o esforço de guerra. Seu colunista Thomas Friedman chegou a defender o envio de soldados “de casa em casa de Basra a Bagdá”, em uma exibição nua de poder militar, enquanto “recomendava” aos iraquianos: “chupem aí!”.
De fato, em toda a paisagem midiática, intelectuais compromitidos mobilizaram suas canetas para solidificar o apoio público à guerra. ABC, NBC, CBS e PBS distorceram sua cobertura: nas duas semanas antes da invasão, as redes ouviram apenas um convidado que questionou a guerra entre 267 entrevistas. A MSNBC até cancelou o programa de Phil Donahue depois que o proeminente âncora questionou as motivações do governo Bush para a intervenção.
Em vez de incentivar a reflexão, a mídia corporativa reduziu a guerra a espetáculos sem sangue de poder patriótico e realizações tecnológicas. Solomon observa que o Pentágono “incorporou” cerca de 750 jornalistas, integrando-os diretamente na arquitetura do esforço de guerra.

Depois de promover a invasão do Iraque, muitas das mesmas vozes agora defendem uma maior intervenção da OTAN na guerra na Ucrânia. O New York Times chama o “apoio dos EUA à Ucrânia” de um “teste de seu lugar no mundo no século 21”. A maioria das empresas de mídia parece ignorar as semelhanças entre as duas guerras de agressão. No entanto, os paralelos são inescapáveis: Em maio, o ex-presidente George W. Bush erroneamente denunciou o presidente russo Vladimir Putin por sua “invasão totalmente injustificada e brutal do Iraque”(!), antes de esclarecer que estava se referindo à Ucrânia.
Ao ecoar os funcionários do governo, a mídia corporativa empresta à propaganda governamental a aparência de convicção privada e verdade objetiva. “No geral, os EUA foram condicionados a aceitar guerras contínuas sem realmente saber o que estão fazendo com pessoas que nunca veremos”, conclui Solomon.
Em particular, a cobertura da imprensa sobre a guerra na Ucrânia projeta a ilusão de consenso, mesmo à medida que o apoio público ao aumento militar da OTAN diminui. Ao apagar a dissidência, os conglomerados de mídia escondem os custos cruéis da guerra e o sistema imperial que a conduz, lucrando com conflitos ao vender narrativas que o tornam invisível.
Miséria Comercializada
De muitas maneiras, o militarismo é uma forma de guerra de classes. “As gordas margens de lucro obtidas pelas empresas que fornecem ao Pentágono e agências afins”, explica Solomon, agravam a desigualdade econômica e desviam recursos de programas sociais. Na prática, a guerra é perpétua porque é lucrativa, enriquecendo uma elite firmemente enraizada no complexo militar-industrial.
Confirmando a tese de Solomon, o Departamento de Defesa publicou um estudo de referência sobre contratados militares em abril que registrou “retornos de mercado excepcionais”, incluindo um aumento nas margens operacionais (lucro como porcentagem da receita) de 7-9% para 11-13% nas últimas duas décadas. Fabricantes de armas superaram pares comerciais devido a contratos governamentais que garantem lucros e fluxo de caixa.
Apesar de um aumento nos dividendos e recompras de ações de 3,7% para 6,4%, a indústria na verdade diminuiu o investimento em operações comerciais. As empresas recusaram-se a reinvestir os lucros em pesquisa, direcionando a receita, ao invés disso, para seus acionistas. Auditores compararam a enorme transferência de recursos para os investidores a “comer a semente”, “prejudicando as perspectivas futuras por consumir em excesso recursos críticos em lucros de curto prazo”.
Além de devorar a receita do governo, os investigadores também reclamam que as empresas se envolvem em manipulação de preços flagrante. O ex-diretor de Preços de Defesa Shay Assad relata que a “exploração de preços que ocorre é inaceitável” e generalizada. A Lockheed Martin e a Boeing cobraram fortunas do Estado pelo míssil PAC-3, obtendo lucros de 40% em vez dos 10-12% legais, de acordo com um relatório do “60 Minutes”. Durante a Guerra do Iraque, o TransDigm Group recusou-se a fornecer válvulas críticas para helicópteros Apache antes de aumentar os preços em 40%- uma prática que os auditores chamam de “extorsão”.
A concentração de poder nas mãos de conglomerados de defesa e a guerra na Ucrânia incentivam a exploração de preços. “Para muitas dessas armas que estão sendo enviadas para a Ucrânia agora, há apenas um fornecedor”, disse o ex-diretor de Preços de Defesa Assad ao “60 Minutes”. “E as empresas sabem disso.”
Enquanto isso, os contratados militares estão usando a Ucrânia e outros mercados estratégicos como campos de testes para sistemas de armas. O general Robin Fontes e Jorrit Kamminga, que dirigem a empresa de consultoria em armas RAIN, argumentam na revista National Defense que “a Ucrânia é um laboratório” para o futuro da guerra: “um esforço incessante e sem precedentes para ajustar, adaptar e melhorar sistemas habilitados por inteligência artificial…”. Mobilizando software de IA, empresas como a Planet Labs e a BlackSky Technology fornecem informações em tempo real aos soldados, funcionando como extensões dos EUA no esforço de guerra ucraniano, ao mesmo tempo em que criam um ambiente de combate fluido e rico em informações.
Neste mês, o governo Biden aprovou até mesmo bombas de fragmentação para a Ucrânia, depois de sugerir anteriormente que seu uso constituía um “crime de guerra”. As forças ucranianas e russas já as utilizam em combate, violando uma convenção internacional que proíbe explosivos indiscriminados. Em conflitos anteriores, os investigadores alegaram que as empresas ocidentais as fabricavam em formas lúdicas para atrair e ferir civis – incluindo crianças.
No entanto, para os fabricantes de armas, o Oriente Médio continua sendo o laboratório de armas por excelência. Israel foi o primeiro país estrangeiro a receber o F-35 Lightning, e seus pedidos financiaram o desenvolvimento da aeronave de combate. Em 2014, as forças israelenses arrasaram áreas inteiras da Palestina com os jatos, enquanto ajudavam a Lockheed Martin a aprimorar seu design. Durante a ofensiva, os EUA reabasteceram imediatamente os estoques de munição de Israel depois de bombardear uma escola primária, permitindo que suas forças superassem a potência de fogo do Hamas em uma proporção de 440 para 1.
Pouco antes de seus ataques em maio de 2023, os pilotos israelenses realizaram um “exercício em grande escala” nos F-35 com seus colegas americanos na base da Força Aérea de Nellis, em Nevada. “É uma rara oportunidade para combatentes de ambos os países integrar nossas capacidades mais avançadas”, exclamou o coronel Jared Hutchinson, comandante dos EUA que supervisiona a iniciativa.
Depois disso, Israel bombardeou Gaza com munições fornecidas pelos EUA, incluindo uma bomba Boeing GBU-39 que destruiu um prédio de apartamentos – matando várias pessoas, incluindo uma jovem que se preparava para seu casamento. A campanha militar danificou 2.943 unidades habitacionais, usando ataques “desproporcionais” que a Anistia Internacional considerou crimes de guerra.
Em vez de minar as relações, os fabricantes de armas dos EUA e Israel transformaram crimes em argumentos de publicidade. Apenas um mês depois, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, a Elbit Systems e a Israel Aerospace Industries participaram do Salão Aéreo de Paris para fechar novas vendas, orgulhando-se de que suas armas eram “testadas em combate”. É significativo que o Haaretz chame os territórios ocupados de “uma sala de aula” para o exército “testar seu equipamento”, que é amplamente subsidiado pela ajuda dos EUA.
O dinheiro continua a fluir. Solomon relata que os fabricantes de armas gastaram US$ 2,5 bilhões em lobby nas últimas duas décadas, financiando as campanhas de legisladores-chave, como o presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara, Adam Smith.
Ao globalizar o complexo militar-industrial, a classe dominante tornou a guerra ao mesmo tempo permanente e distante, sustentando a capacidade formidável de fazer guerras dos EUA com conflitos estrangeiros. Aliados como a Ucrânia e Israel tornam-se mercados e argumentos de venda para equipamentos testados em batalha. A agitação geopolítica sustenta a prosperidade dos conglomerados enquanto devora recursos para programas sociais e os mais pobres.
Imperialismo 100% mercenário
Por fim, a classe dominante torna a guerra invisível usando recrutas anônimos e empresas de contratação de mercenários para manter a infraestrutura difusa de um império global. Na década de 1970, o exército fez a transição para uma “força totalmente mercenária” para enfraquecer o movimento anti-guerra e isolar as forças armadas do escrutínio social. “O recrutamento do exército aprendeu a vender o serviço militar ao lado de sabão e refrigerantes no mercado de consumo”, observa a historiadora Beth Bailey.
Solomon enfatiza que os recrutadores têm explorado os vulneráveis, prometendo que “se alistar significa abrir portas para melhores oportunidades”. Ao introduzir incentivos econômicos e eliminar o recrutamento obrigatório, os funcionários criaram uma classe de guerreiros isolada do público em geral. O Pentágono agora a mobiliza para guerras que a maioria do público dos EUA nunca testemunhará, minimizando antecipadamente o revertério político.
À medida em que a desigualdade econômica aumenta, um analista da Instituição Brookings destaca que o exército é “um dos últimos redutos da mobilidade social para a classe média”, atraindo soldados com cuidados de saúde e mensalidade universitária gratuita. Ainda assim, o exército enfrenta uma escassez crônica de pessoal, incentivando os funcionários a visar crianças a partir dos 12 anos, bem como grupos marginalizados, incluindo comunidades indígenas no Canadá. Nos últimos anos, o exército tem oferecido cidadania a estrangeiros, aumentando sua presença nas redes sociais e até mesmo anunciando brindes falsos de Xbox para atrair jovens para seu site.
Solomon também aponta que esses funcionários supervisionam uma rede intricada de cerca de 750 bases em todo o mundo, permitindo às forças armadas exibir seus músculos em todos os continentes. Além de facilitar mobilizações em larga escala, as instalações militares norte-americanas no exterior tornam possíveis operações secretas e até mesmo intrigas políticas.
Repetidas vezes, bases na América Latina facilitaram golpes contra governos de esquerda. Depois que o presidente equatoriano Rafael Correa fechou uma instalação em Manta, seu sucessor lançou acusações legais infundadas contra ele, enquanto dava as boas-vindas às forças dos EUA e as chamava de volta ao país. Em 2018, o ministério da Defesa do Equador até anunciou planos para permitir que o exército dos EUA usasse as Ilhas Galápagos para operações, chamando o arquipélago de “um porta-aviões natural”.
Bases estrangeiras também permitem que os EUA garantam o controle sobre recursos estratégicos. Isso é especialmente verdadeiro no Peru, rico em minerais, e onde em dezembro passado autoridades dos EUA apoiaram a derrubada do presidente Pedro Castillo, um populista de esquerda que promovia a soberania econômica. Sua sucessora, Dina Boluarte, iniciou uma onda de repressão que matou mais de 60 civis, culminando no que o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos chama de “massacre” contra a população indígena em Ayacucho.
Recentemente, Boluarte autorizou a entrada de 1.242 soldados dos EUA, enviando um sinal tenebroso aos manifestantes. Citando a mudança de regime no Peru, um coronel treinado pelos EUA na Colômbia anunciou planos para “defenestrar” o presidente de esquerda de seu país.
Na África e no Oriente Médio, as bases funcionam como plataformas de armas para ataques de drones. Desde 2007, a guerra aérea dos EUA na Somália contra o grupo al-Shabab matou pelo menos 90 civis, mas o Pentágono reconhece apenas cinco das vítimas e se recusa a compensar suas famílias.
Apesar das alegações de “precisão cirúrgica”, a precisão da guerra de drones intensifica os conflitos regionais. Em 2017, os EUA ajudaram equivocadamente autoridades nigerianas a bombardear um campo de refugiados que o próprio governo construiu, matando mais de 160 civis. Drones também bombardearam casamentos no Iêmen e no Afeganistão. Mais recentemente, um drone dos EUA permitiu que a França matasse “membros de grupos terroristas armados” em Bounti, Mali. Mais tarde, as forças das Nações Unidas descobriram que as vítimas eram membros de outra festa de casamento.
Os formuladores de políticas dos EUA retratam invariavelmente como “um imperativo de segurança” as ações “além do horizonte”, como o uso de bases militares e drones. No entanto, como argumenta Solomon, elas na verdade fomentam a insegurança, alienando comunidades em todo o mundo e alimentando um ciclo de violência.
Essas consequências não são apenas invisíveis, mas duradouras. Na primavera [nórdica] deste ano, a Universidade de Brown publicou um estudo estimando que os conflitos iniciados pelos EUA pós-11 de setembro mataram mais de 4,5 milhões de pessoas. Sob sanções de Washington, o artigo observa, a maioria dos afegãos sofre de desnutrição e está morrendo de causas relacionadas à guerra a taxas cada vez mais altas.
À medida que veteranos dos EUA da guerra no Afeganistão lutam na Ucrânia, o espectro de conflitos passados assombra o presente. Isso nos deixa com o que Solomon chama de cicatrizes profundas e “ausências trágicas”: mentes envenenadas e corpos destroçados, populações famintas e terras polvilhadas de munição. Do Afeganistão à Ucrânia, os mesmos argumentos, armas e soldados estão colhendo os mesmos resultados. Mais de duas décadas após a invasão do Oriente Médio, os EUA ainda anunciam a paz ao longo de um caminho para a guerra…
fonte: https://outraspalavras.net/geopoliticaeguerra/por-que-eles-precisam-da-guerra/
Por que Israel não pode vencer
Massacre da população civil de Gaza começou. Telavive julga que mais brutalidade esmagará, enfim, as aspirações palestinas. Mas a violência volta-se contra os regimes coloniais que a praticam. O terror que Israel inflige é o terror que receberá

Boletim Outras Palavras
Receba por email, diariamente, todas as publicações do site
Por Chris Hedges, no ScheerPost | Tradução: Antonio Martins
As mortes indiscriminadas de israelenses, perpretadas pelo Hamas e outras organizações de resistência palestinas, o sequestro de civis, a chuva de foguetes sobre Israel, os ataques de drones em diversos alvos, desde tanques até ninhos de metralhadoras automatizadas, são a linguagem familiar do ocupante israelense. Israel tem usado essa fala ensanguentada com aos palestinos desde que as milícias sionistas tomaram mais de 78% da Palestina histórica, destruíram cerca de 530 aldeias e cidades e mataram cerca de 15 mil, em mais de 70 massacres, entre 1947 e 49. Cerca de 750 mil palestinos foram etnicamente expulsos para criar o estado de Israel em 1948.
A resposta de Telaviv às incursões armadas deste fim de semana será um ataque genocida a Gaza. Israel matará dezenas de palestinos para cada israelense morto. Centenas de palestinos já morreram em ataques aéreos israelenses desde o lançamento da “Operação Al-Aqsa Flood” no sábado de manhã, que deixou 700 israelenses mortos.
O primeiro-ministro Netanyahu advertiu os palestinos em Gaza no domingo para “sair agora”, porque Israel vai “transformar todos os esconderijos do Hamas em escombros”. Mas para onde devem ir? Israel e o Egito bloqueiam as fronteiras terrestres. Não há saída por ar ou mar, que são controlados por Israel.
A retaliação coletiva contra inocentes é uma tática familiar usada por governantes coloniais. Os norte-americanos a usaramcontra os indígenas e mais tarde nas Filipinas e no Vietnã. Os alemães a usaram contra os hereros e namaquas na Namíbia. Os britânicos, no Quênia e na Malásia. Os nazistas, nas áreas que ocuparam na União Soviética, Europa Oriental e Central. Israel segue o mesmo roteiro. Morte por morte. Atrocidade por atrocidade. Mas sempre é o ocupante quem inicia essa dança macabra e troca pilhas de cadáveres por pilhas ainda maiores de cadáveres.
Não se trata de defender os crimes de guerra de nenhum dos lados, nem de comemorar os ataques. Já vi violência suficiente nos territórios ocupados por Israel, onde cobri o conflito por sete anos, para detestar a violência. Mas este é o desfecho familiar de todos os projetos coloniais. Regimes implantados e mantidos pela violência geram violência. A guerra de libertação haitiana. Os Mau Mau no Quênia. O Congresso Nacional Africano na África do Sul. Essas insurgências nem sempre têm sucesso, mas seguem padrões familiares. Os palestinos, como todos os povos colonizados, têm o direito à resistência armada segundo o direito internacional.
Israel nunca teve interesse em um acordo equitativo com os palestinos. Construiu um Estado de apartheid e capturou gradualmente porções cada vez maiores de terra palestina em uma campanha lenta de limpeza étnica. Transformou Gaza em 2007 na maior prisão a céu aberto do mundo.
O que Israel, ou a comunidade mundial, espera? Como é possível aprisionar 2,3 milhões de pessoas por 16 anos em Gaza (metade das quais está desempregada) — um dos lugares mais densamente povoados do planeta, reduzir a vida de seus habitantes (metade dos quais são crianças) a um nível de subsistência, privá-los de suprimentos médicos básicos, comida, água e eletricidade, usar aviões de ataque, canhões, unidades mecanizadas, mísseis, armas navais e unidades de infantaria para aleatoriamente matar civis desarmados e não esperar uma resposta violenta? Israel está realizando agora ondas de ataques aéreos em Gaza, preparando uma invasão terrestre e cortou a energia elétrica, que normalmente existe apenas de duas a quatro horas por dia.
Muitos dos combatentes da resistência que se infiltraram em Israel sem dúvida sabiam que seriam mortos. Mas, como os combatentes da resistência em outras guerras de libertação, decidiram que, não podendo escolher como viver, escolheriam como morrer.
Fui amigo próximo de Alina Margolis-Edelman, que fez parte da resistência armada na revolta do Gueto de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial. Seu marido, Marek Edelman, foi o comandante adjunto da revolta e o único líder a sobreviver à guerra. Os nazistas haviam trancado 400 mil judeus poloneses dentro do Gueto de Varsóvia. Os presos morriam aos milhares, de fome, doença e violência indiscriminada. Quando os nazistas começaram a transportar os remanescentes para os campos de extermínio, os combatentes da resistência reagiram. Ninguém esperava sobreviver.
Edelman, após a guerra, condenou o sionismo como uma ideologia racista usada para justificar o roubo da terra palestina. Ficou ao lado dos palestinos, apoiou sua resistência armada e se encontrou frequentemente com líderes palestinos. Criticou a apropriação por Israel do Holocausto, para justificar a repressão ao povo palestino. Enquanto se deleitava com a mitologia da revolta do gueto, Israel tratou o único líder sobrevivente da revolta, que se recusou a deixar a Polônia, como um pária. Edelman entendia que a lição do Holocausto e da revolta do gueto não era que os judeus são moralmente superiores ou eternas vítimas. A história, disse Edelman, pertence a todos. Os oprimidos, incluindo os palestinos, tinham o direito de lutar por igualdade, dignidade e liberdade. “Ser judeu significa sempre estar com os oprimidos e nunca com os opressores”, sustentou ele.
A revolta de Varsóvia há muito tempo inspira os palestinos. Representantes da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) costumavam depositar uma coroa de flores na comemoração anual da revolta na Polônia, no monumento ao Gueto de Varsóvia.
Quanto mais violência o colonizador dispende para subjugar o ocupado, mais ele se transforma em um monstro. O governo atual de Israel é composto por extremistas judeus, sionistas fanáticos e fanáticos religiosos que estão desmantelando a democracia israelense e pedindo a expulsão em massa ou assassinato de palestinos, inclusive aqueles que vivem dentro de Israel.
O filósofo israelense Yeshayahu Leibowitz, a quem Isiah Berlin chamou de “a consciência de Israel”, advertiu que se Israel não separasse a igreja do Estado, isso daria origem a um rabinato corrupto que reduziria o judaísmo a um culto fascista. “O nacionalismo religioso é para a religião o que o nacional-socialismo foi para o socialismo”, disse Leibowitz, que morreu em 1994.
Ele compreendia que a veneração cega dos militares, especialmente após a guerra de 1967 – que capturou o Sinai egípcio, Gaza, a Cisjordânia (incluindo Jerusalém Oriental) e as Colinas de Golã sírias, era perigosa e levaria à destruição final de Israel, juntamente com qualquer esperança de democracia. “Nossa situação se deteriorará para a de um segundo Vietnam, para uma guerra em escalada constante sem perspectiva de resolução final”, alertou.
Ele previu que “os árabes seriam os trabalhadores e os judeus, os administradores, inspetores, funcionários e policiais – principalmente policiais secretos. Um Estado governando uma população hostil de 1,5 milhão a 2 milhões de estrangeiros se tornaria necessariamente um Estado policial secreto, com tudo o que isso implica para a educação, a liberdade de expressão e as instituições democráticas. A corrupção característica de todo regime colonial também prevaleceria no Estado de Israel. Os governos teriam que suprimir a insurgência árabe de um lado e cooptar colaboradores árabes do outro. Também há boas razões para temer que as Forças de Defesa de Israel, que até agora foram um exército do povo, degenerem como resultado de serem transformadas em um exército de ocupação, e seus comandantes, que se tornarão governadores militares, se assemelhem aos seus colegas em outras nações.”
Leibowitz viu que a ocupação prolongada dos territórios palestinos inevitavelmente geraria “campos de concentração”. Nessas condições, ele disse, “Israel não mereceria existir, e não valerá a pena preservá-lo.”
A próxima etapa dessa luta – que já começou — será uma campanha maciça de matança industrial em Gaza por parte de Israel. Telaviv está convencida de que níveis maiores de violência finalmente esmagarão as aspirações palestinas. Está enganado. O terror que Israel inflige é o terror que receberá.
CHRIS HEDGES
Guerra na Palestina – a escalada fascista
- 15/10/2023 A Terra é Redonda

Por VINÍCIO CARRILHO MARTINEZ*
Colocar-se a favor da sobrevivência do povo palestino, contra o genocídio de dois milhões de pessoas, não faz ninguém ser defensor do Hamas
Há uma declaração clássica, dotada de tanta verdade que poucas lhe fazem concorrência, e nos diz assim: “Na guerra, a verdade é a primeira que morre”. No caso específico, a verdade morta diz que, nas ações militares, Israel não luta contra o Hamas, pois, na prática do incendiário fósforo branco, leva a morte disseminada para toda a população civil de Gaza: palestinos ou não.
A guerra travada entre Israel e a Palestina (Gaza) tem uma história longa e não é nosso enfoque nesse texto. Nossa premissa é ética, ou seja, diante do princípio civilizatório, tenhamos clareza da condição humana: nem sionismo (Estado sionista de Israel), nem antissemitismo: fenecimento do Estado de Israel. Não temos aqui torcida Fla x Flu, especialmente porque a morte de milhares de pessoas – notadamente da população civil desarmada – geraria um colapso geopolítico na região e isto poderia resultar numa escalada bélica sem precedentes: a 3ª Guerra Mundial, com emprego de tecnologia atômica.
Repito, a premissa é simples e clara: nem sionismo, nem antissemitismo. Com isso em mente, deveríamos descredenciar as ações do Hamas abatendo centenas ou já milhares de pessoas, em uma Rave, nas casas, nos Bunkers de refúgio, e desarmadas para o ódio naquele momento. Do mesmo modo, é urgente condenar as ações de sufocamento que o Estado de Israel (sionista) impôs a Gaza num apartheid palestino: qualquer pessoa pode/deve ver os bombardeios diários que matam civis. Sem contar o uso de bombas de fósforo branco,[i] já banidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Este fato, em si, já configura crime de guerra. Contudo, como todas as guerras, essa também tem uma história como pano de fundo para se revelar.
Na história da humanidade, em sua protuberância bélica, as famosas lutas entre o bem e o mal, via de regra, terminam em zero a zero ou na soma-zero. Seguindo-se a ciência política clássica, soma-zero quer dizer que ambos os contendores sempre perdem e, quando alguém ganha, as perdas são maiores do que os trunfos. Essa leitura binária da política é bíblica, mas também deve constar da Torá e do Alcorão.
E é essa leitura binária, messiânica, construtora de narrativas de ocasião – notadamente presas na lógica medieval dos cavaleiros Templários a libertar Jerusalém –, que vem mobilizando a cena internacional e alimentando a extrema direita mundo afora. Com essa força motriz, no Brasil, pelo menos desde 2009 – mas, com certeza, desde 2013/14 –, os tentáculos fascistas saem lancinantes dos buracos de esgoto: aqui não há expressão que melhor defina o chorume político fascista.
Obviamente, essa lógica maniqueísta, binária, empobrecida como a luz que é engolida pela caverna escura, se apossou da guerra Israel x Palestina. E aqui cabe uma observação: a guerra que o Estado de Israel (e aliados, como os EUA) trava, neste momento, não é contra o Hamas. É contra os dois milhões de pessoas (palestinos ou não) que estão açodadas na Faixa de Gaza.
A Faixa de Gaza é um gueto implantado a fórceps contra um inimigo difuso, e promovido por quem o sofreu na pele em Varsóvia: os episódios contam que em 1943 o levante judeu contra os nazistas foi um dos maiores da história mundial da resistência. Esse parágrafo é subliminar e cabe a quem lê também entender as entrelinhas.
Pois bem, colocar-se a favor da sobrevivência do povo palestino – ainda que a tese de dois Estados possa estar bem abalada –, contra o genocídio de dois milhões de pessoas e que se prenuncia, sobretudo, se o Exército de Israel promover uma invasão de Gaza por terra, ou ser contra a morte lenta porque não há água potável, remédios, alimentos, neste apartheid hostil a qualquer princípio de humanidade, em Gaza, não faz ninguém ser defensor do Hamas.
O Hamas é um grupo terrorista e suas últimas ações não desmentem sua atual nomenclatura criminal. Não importa se os EUA ou Israel criaram o Hamas, não é isso que está em questão. Mas, sim, fugirmos da lógica binária do bem e do mal, açoitada que é pela inverdade que domina toda narrativa maniqueísta, para entendermos que o Hamas não é o sinônimo da Palestina. Assim como torcer ou não para o Flamengo não define o que é ser brasileiro ou brasileira.
Particularmente, entendo que o Hamas deu vazão (um pretexto, uma justificativa) para o Estado de Israel invocar a razão de Estado – inclusive ou especialmente porque na primeira ofensiva do Hamas houve perda de território, de soberania. É como se estivessem invocando Thomas Hobbes (e não só Jean Bodin, que se detinha com o Direito Natural/Moral),[ii] a fim de acionar o Estado com todas as forças de exceção disponíveis (força extrema) frente ao ataque externo. Essa é a leitura promovida pelo Estado, colocando-se como máquina de guerra contra os insurgentes reais ou imaginários que foram guetualizados, por ele mesmo, o Estado.
Porém, no esforço de confundir, para dividir e criminalizar, uma versão do bolsonarismo (leia-se fascismo nacional) tenta reduzir o povo palestino ao Hamas. Desse modo, propõe que professores e professoras que defendam a Palestina (na cabeça deles está escrito Hamas) sejam criminalizados no Brasil.[iii]
É verdade que o maniqueísmo é tão fracassado que o famoso 0 e 1 (zero e um) nem serve mais à informática dos computadores quânticos. Porque não são mais binários. Entretanto, ainda sobrevive na inconstância ética do Legislativo brasileiro
A nossa realidade, infelizmente, ainda nos remete ao homem das cavernas, aquele que se protege da luz com a escuridão das trevas prolongadas pela ignorância. Aliás, para esses indivíduos, cabe lembrar que sentir ódio é uma reação perfeitamente humana, mas, o que eles fazem é incitação ao crime de ódio social. O que eles promulgam, outras listas de professores, é o crime em si.
Por essas e por muitas outras, de fato, não quero bem a nenhum(a) fascista – e isso não me faz criminoso. Pelo contrário, manter-me na máxima distância do fascismo é o que me afasta da criminologia social.
*Vinício Carrilho Martinez é professor do Departamento de Educação da UFSCar.
Notas
[i] É um tipo de Napalm sofisticado, amplamente empregado pelos EUA no Vietnã. O fósforo branco não para de queimar até que consuma toda a carne humana.
[ii] Para o filósofo Thomas Hobbes, ou o poder é supremo ou é impotente, simplesmente porque não há, e não pode haver, limites à própria soberania. A soberania é infatigável porque o homem egoísta deve ser forçado a viver em sociedade, e a vida social deve-se totalmente à soberania estatal. Daí que, em nome da razão de Estado – a justificativa para o Estado existir – toda força será empregada, sem reservas de moralidade. É exatamente assim que age o Estado de Israel, invocando uma ameaça de “estado de natureza”. Essa é a sua justificativa ou razão de Estado.
[iii] https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2023/10/deputado-pede-a-pf-medidas-contra-mapeamento-de-professores-acusados-de-serem-pro-hamas.shtml.
fonte: https://aterraeredonda.com.br/guerra-na-palestina-a-escalada-fascista/
Israel – Estado teocrático

Por SLAVOJ ŽIŽEK*
O ataque do Hamas deve ser lido no contexto do grande conflito que dividiu Israel nos últimos meses
O ataque do Hamas a Israel deve ser condenado incondicionalmente, sem quaisquer “mas” ou “se”. Basta recordar o massacre de jovens civis que saíram de uma festa rave com 260 mortos a tiros – isto não é “guerra”, isto é um massacre puro e simples que dá um sinal de que o objetivo do Hamas, a destruição de Israel como Estado, inclui o assassinato de civis israelenses. O que, no entanto, deve ser feito com urgência, é localizar este ataque no seu contexto histórico – tal contextualização de forma alguma o justifica, apenas esclarece por que e como ocorreu.
O título de um diálogo recente sobre antissemitismo e BDS [Boicote, Desinvestimento e Sanções] no Der Spiegel foi: “Wer Antisemit ist, bestimmt der Jude und nicht der potenzielle Antisemit” [“Quem é antissemita é determinado pelo judeu e não pelo potencial antissemita”]. OK, parece lógico, a própria vítima decidir se é realmente uma vítima. Mas o mesmo não se aplica aos palestinos, que deveriam ser capazes de determinar quem está roubando as suas terras e os privando dos seus direitos elementares?
Para se ter uma ideia do desespero dos palestinos comuns da Cisjordânia, basta lembrar os vagos ataques individuais suicidas nas ruas (principalmente) de Jerusalém há cerca de uma década: um palestino comum aborda um judeu, saca uma faca e o esfaqueia (geralmente), sabendo muito bem que ele/ela será morto instantaneamente por outras pessoas ao seu redor. Não houve qualquer mensagem nestes atos “terroristas”, nenhum grito de “Palestina Livre!”; não houve nenhuma grande organização por trás deles (nem mesmo as autoridades israelenses o afirmaram), nenhum grande projeto político, apenas puro desespero.
Eu estava, naquela época, em Jerusalém e meus amigos judeus me alertaram sobre esse perigo, aconselhando-me que, se eu visse isso chegando, deveria gritar bem alto: “Eu não sou judeu!” – e lembro-me claramente que fiquei profundamente envergonhado de me comportar assim, sabendo muito bem que não tinha certeza do que realmente faria em tal situação… Então, quando lemos agora na imprensa manchetes como “Isso é o pesadelo para Israel e seu povo” ou “11 de setembro de Israel: Terror inimaginável atinge o coração da nação!” – sim, com certeza, mas os palestinos da Cisjordânia vivem num pesadelo há décadas.
As coisas pioraram com o novo governo de Benjamin Netanyahu – em um painel de TV em 25 de agosto de 2023, Itamar Ben Gvir, Ministro da Segurança Nacional, disse: “Meu direito, o direito da minha esposa, o direito dos meus filhos de circular livremente nas estradas da Judéia e Samaria [Cisjordânia] é mais importante do que o dos árabes”. Depois, voltando-se para o palestrante Mohammad Magadli, o único árabe no painel, Ben Gvir disse: “Desculpe, Mohammad, mas esta é a realidade”.1
Em suma, a violência anti-Palestina já não é sequer formalmente condenada pelo Estado. O destino de Ben-Gvir é o indicador mais claro desta mudança. Antes de entrar na política, Ben-Gvir era conhecido por ter na sua sala um retrato do terrorista israel-americano Baruch Goldstein, que em 1994 massacrou vinte e nove fiéis muçulmanos palestinos e feriu outros 125 em Hebron, no que ficou conhecido como o massacre da Caverna dos Patriarcas. Ele entrou na política juntando-se ao movimento juvenil do partido Kach e Kahane Chai, que foi designado como organização terrorista e proibido pelo próprio governo israelense.
Quando atingiu a maioridade para o recrutamento nas Forças de Defesa de Israel, aos 18 anos, Ben-Gvir foi impedido de servir devido à sua formação política de extrema direita. E tal pessoa, condenada por Israel como racista e terrorista, é agora o ministro que deveria salvaguardar o Estado de Direito… O Estado de Israel, que gosta de se apresentar como a única democracia do Oriente Médio, agora de fato se transformou em um Estado teocrático (com o equivalente à lei Sharia).
Shlomo Ben-Ami escreveu em Hubris Meets Nemesis in Israel: “Ao excluir qualquer processo político na Palestina e afirmar corajosamente, nas diretrizes vinculativas do seu governo, que ‘o povo judeu tem um direito exclusivo e inalienável a todas as partes da Terra de Israel’, o governo fanático de Netanyahu tornou o derramamento de sangue inevitável”.2
Exagero? Aqui está o primeiro dos “princípios básicos oficiais do 37º governo de Israel”: “O povo judeu tem um direito exclusivo e inalienável a todas as partes da Terra de Israel. O governo promoverá e desenvolverá a colonização de todas as partes da Terra de Israel – na Galiléia, no Negev, no Golã, na Judéia e na Samaria”.3 Como é que alguém, depois do aparecimento de tal “princípio”, pode censurar os palestinos por se recusarem a negociar com Israel? Este “princípio” não exclui quaisquer negociações sérias, não deixa aos palestinos apenas a resistência violenta?
Se eu fosse mais propenso a teorias da conspiração, certamente expressaria a minha dúvida sobre o fato muito divulgado de que o serviço secreto israelense realmente não sabia nada sobre o ataque. Acho a surpresa de “como isso pôde passar despercebido” uma farsa. Não estava Gaza totalmente sob o seu controle, com numerosos informantes, todos os mais recentes conjuntos de sensores terrestres e aéreos etc.? Não é permitido levantar a questão: quem lucrou mais com o ataque do Hamas? Dito de uma forma stalinista, o ataque do Hamas serve objetivamente ao interesse dos radicais israelenses que agora governam o Estado (para não mencionar também o interesse da Rússia: a guerra já desviou a atenção da guerra ucraniana).
No entanto, mesmo que Benjamin Netanyahu soubesse que o Hamas estava preparando algo, ele não poderia ter previsto o número de israelenses mortos, pelo que o ataque do Hamas também pode significar o fim de Benjamin Netanyahu, que perdeu o título de “Sr. Segurança”… Quem sabe o que realmente aconteceu? A situação é obscura. Qual foi o verdadeiro papel do Irã, da Rússia e também da China? A guerra de Gaza é o primeiro momento da Terceira Guerra Mundial? Uma coisa é certa: esta guerra é uma catástrofe com consequências históricas.
No entanto, em vez de nos perdermos em teorias da conspiração, bastaria salientar que ambos os lados (Hamas e o governo de Benjamin Netanyahu) são contra qualquer opção de paz e defendem a luta até a morte. O ataque do Hamas deve ser lido no contexto do grande conflito que dividiu Israel nos últimos meses. Comentando as medidas propostas pelo governo de Benjamin Netanyahu, Yuval Harari disse de forma brutal: “Isto é definitivamente um golpe. Israel está a caminho de se tornar uma ditadura”.4 Israel estava dividido entre os fundamentalistas nacionalistas que tentavam abolir as restantes características do poder estatal legal, e os membros da sociedade civil conscientes desta ameaça, mas ainda com medo de propor um pacto com os palestinos não antissemitas.
A situação aproximava-se da guerra civil entre os próprios judeus israelenses, com sinais de decadência da ordem jurídica. Com o ataque do Hamas, a crise terminou (pelo menos temporariamente) e o espírito de unidade nacional prevalece: a oposição propôs imediatamente a formação de um governo de emergência de unidade nacional, ou, como disse o líder da oposição Yair Lapid: “Eu ganhei. Não me preocupo com a questão de quem é o culpado e por que fomos surpreendidos. Enfrentaremos o nosso inimigo em unidade”.5
Existem outros gestos semelhantes: reservistas que antes se abstinham do serviço militar em oposição à reforma legal e à redução da doutrina da separação de poderes, agora realistaram-se etc. Num clássico movimento político, a divisão interna é superada quando ambos os lados estão unidos contra um inimigo externo. Como sair deste maldito ciclo vicioso?
Ninguém menos que Ehud Olmert apresentou uma voz um pouco diferente: sim, Israel deveria combater o Hamas, mas também deveria usar esta situação para oferecer uma mão aos palestinos prontos para negociar, uma vez que o que se esconde no pano de fundo da guerra é a questão palestina não resolvida.6 E definitivamente não existem palestinos antissemitas. No domingo, 10 de setembro de 2023, um grupo de mais de cem acadêmicos e intelectuais palestinos assinou uma carta aberta para condenar os “comentários moral e politicamente repreensíveis” feitos recentemente pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, sobre o Holocausto e as origens dos judeus ashkenazi: “Enraizados em uma teoria racial difundida na cultura e na ciência europeias da época, o genocídio nazista do povo judeu nasceu do antissemitismo, do fascismo e do racismo. Rejeitamos veementemente qualquer tentativa de diminuir, deturpar ou justificar o antissemitismo, os crimes nazistas contra a humanidade ou o revisionismo histórico em relação ao Holocausto”.7
Então, o que poderia a Europa fazer aqui além de simplesmente se irritar por não dar apoio suficiente a um ou outro lado na guerra em curso? Nem todos os israelenses são nacionalistas fanáticos, nem todos os palestinos são antissemitas (da mesma forma que nem todos os russos são pró-Putin). Talvez a primeira coisa a fazer seja reconhecer claramente o enorme desespero e confusão que podem dar origem a atos ocasionais de maldade. E o próximo passo é ver a estranha semelhança entre os palestinos, a quem é negado o único lugar que conheceram como sua pátria, e os próprios judeus – esta homologia vale até para o termo “terrorismo”: nos anos da luta judaica contra os militares britânicos na Palestina, o próprio termo “terrorista” tinha uma conotação positiva.
No final da década de 1940, os jornais americanos publicaram um anúncio com a manchete “Carta aos Terroristas da Palestina”, contendo estas frases: “Meus Bravos Amigos. Vocês podem não acreditar no que escrevo, pois há muito esterco no ar neste momento. Os palestinos da América estão com vocês.” Este texto foi escrito por ninguém menos que Ben Hecht, o célebre roteirista de Hollywood.
Por baixo de todas as polêmicas sobre “quem é mais terrorista”, encontra-se como uma pesada nuvem escura a massa de árabes palestinos que durante décadas foram mantidos num limbo. Quem são eles, em que terra vivem? Território ocupado, Cisjordânia, Judeia e Samaria… ou o Estado da Palestina que é atualmente reconhecido por 139 dos 193 Estados membros das Nações Unidas. É membro do Comitê Olímpico Internacional, bem como da UNESCO, da UNCTAD e do Tribunal Penal Internacional. Após uma tentativa fracassada em 2011 de garantir o pleno estatuto de Estado membro das Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou em 2012 para reconhecer a Palestina como um Estado observador não membro. Israel (que controla o seu território) trata-os como colonos temporários, como um obstáculo ao restabelecimento do estado “normal” com os judeus como os únicos verdadeiros nativos.
Até mesmo muitos israelenses ateus argumentam que, embora Deus não exista, deu-lhes a terra de Israel para seu uso exclusivo. Eles são estritamente tratados como um problema, o Estado de Israel nunca lhes ofereceu qualquer esperança, delineando positivamente o seu papel no estado em que vivem. O mais obsceno foi a ideia, que circulou há cerca de uma década, de que cada palestino da Cisjordânia receberia meio milhão de dólares se deixasse o país.
O Hamas e a linha dura israelense são, portanto, as duas faces da mesma moeda: a verdadeira escolha não é entre eles, mas entre os fundamentalistas da linha dura e aqueles que estão abertos à coexistência de ambos os lados. Aqui, mais uma vez, devemos nos opor à dupla chantagem: se alguém é pró-Palestina, é eo ipso antissemita, e se alguém é contra o antissemitismo, deve ser eo ipso pró-Israel.
A solução não é um compromisso, uma “medida certa” entre os dois extremos – deve-se antes ir até ao fim em ambas as direções, na defesa dos direitos palestinos, bem como na luta contra o antissemitismo. Por mais utópico que isto possa parecer, as duas lutas são dois momentos da mesma luta (especialmente hoje, quando os sionistas antissemitas florescem – pessoas que são secretamente antissemitas, mas apoiam a expansão de Israel, desde Breivik até aos fundamentalistas religiosos dos EUA).
Portanto, sim, apoio incondicionalmente o direito de Israel de se defender contra tais ataques terroristas, mas ao mesmo tempo simpatizo incondicionalmente com o destino desesperado e cada vez mais sem esperança dos palestinos nos territórios ocupados. Aqueles que pensam que há uma “contradição” nesta minha postura são aqueles que efetivamente representam uma ameaça à nossa dignidade e liberdade.
*Slavoj Žižek, professor de filosofia na European Graduate School, é diretor internacional do Birkbeck Institute for the Humanities da Universidade de Londres. Autor, entre outros livros, de Em defesa das causas perdidas (Boitempo). [https://amzn.to/46TCc6V]
Publicado originalmente no blog da Boitempo.
Notas
1 ‘Sorry Mohammad’: What’s behind Ben Gvir’s apartheid honesty? (972mag.com).
2 Hubris Meets Nemesis in Israel by Shlomo Ben-Ami – Project Syndicate (project-syndicate.org).
3 Judicial reform, boosting Jewish identity: The new coalition’s policy guidelines | The Times of Israel.
4 Yuval Noah Harari: This Is Definitely a Coup. Israel Is on Its Way to Becoming a Dictatorship – Haaretz.com.
5 Israeli opposition leader Lapid offers to form emergency government (msn.com).
6 https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/devemos-combater-hamas-mas-procurar-autoridades-palestinas-interessadas-no-dialogo-diz-ex-primeiro-ministro-de-israel/.
7 Palestinian academics sign open letter condemning Abbas’s antisemitic comments | The Times of Israel.
fonte: https://aterraeredonda.com.br/israel-estado-teocratico/

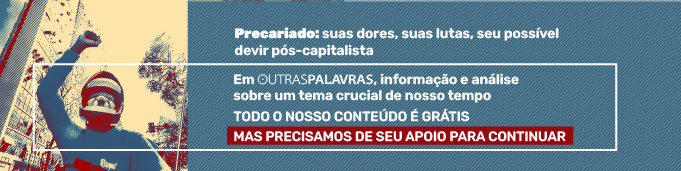






 171
171