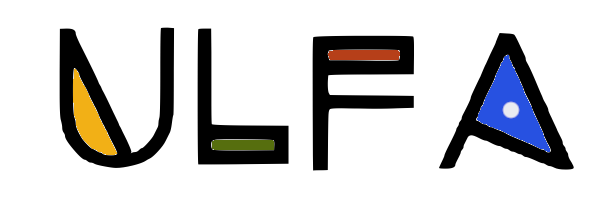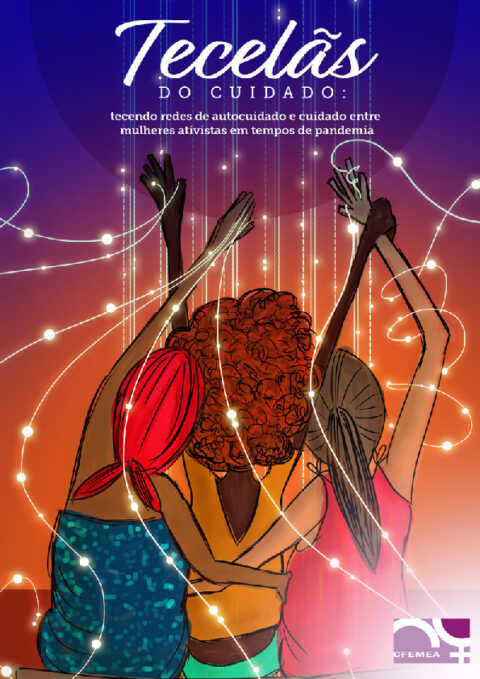O colonialismo japonês é marcado por uma história infame de brutalização das mulheres, que foram sequestradas e forçadas à escravidão sexual. Contudo, o papel das mulheres na luta contra o império japonês, brilhantemente retratado em dois romances recentes, ainda é pouco conhecido.
Pedro Silva

Em “Capitalistas devem morrer de fome” (em tradução livre, ainda sem edição em português) — um romance de Park Seolyeon — uma ativista sindicalista sobe ao telhado de uma fábrica de borracha em Pyongyang, Coreia, usando uma corda improvisada feita de algodão japonês retorcido, encenando um protesto individual contra os salários injustos sob o domínio colonial japonês. Na estreia ficcional de Emma Pei Yin, “Quando mulheres adormecidas despertam” (também ainda sem edição em português), uma jovem líder rebelde dispara tiro após tiro contra soldados japoneses que a perseguem, entrincheirada entre barris de madeira com peixe mofado em um píer de Hong Kong, ganhando tempo para que civis escapem em barcos de resgate que os levarão para praias mais seguras.
É raro encontrar representações da invasão brutal do Japão no Leste Asiático na literatura ocidental; representações da resistência anticolonial feminina são praticamente inexistentes. Essas cenas, ambas baseadas em fatos reais, estão entre as poucas representações de mulheres lutando contra a ocupação japonesa na região — uma história rica, porém esquecida, que permanece em grande parte inexplorada nas narrativas anglófonas mais populares da Segunda Guerra Mundial.
Capitalistas devem morrer de fome e Quando mulheres Adormecidas despertam diferem em estilo e contexto. No entanto, ambos os romances mergulham profundamente nas experiências de gênero de mulheres que viveram sob a subjugação japonesa, através de uma perspectiva não apenas de sobrevivência, mas também de autorrealização. Sob as indignidades cotidianas da guerra, as protagonistas ousam ponderar as possibilidades: e o amor, e o empoderamento?
Milhares de camaradas
Oromance de Park, um relato ficcional da vida real da ativista sindicalista coreana Kang Juryoung, se passa em algum momento do início do século XX em Gando, uma região disputada entre a Manchúria chinesa e a península coreana recém-colonizada pelo Japão, cerca de três décadas antes da divisão da Coreia. Anteriormente um Estado vassalo da China, a Coreia foi anexada pelo Japão em 1910, após a Primeira Guerra Sino-Japonesa. A pedido de seus pais empobrecidos, a jovem e espirituosa Juryoung acaba em um casamento arranjado com Jeonbin, um jovem culto da classe mercantil, por quem se apaixona.
Quando seu marido patriota decide se tornar um combatente pela liberdade, Juryoung foge com ele para se juntar ao Exército de Libertação na Manchúria, um grupo desorganizado de soldados nacionalistas e comunistas que faziam parte da resistência armada antijaponesa que decolou nas décadas de 1920 e 1930. Kim II-sung, o primeiro líder da Coreia do Norte, foi um desses guerrilheiros, cujo papel no movimento de independência tem sido usado para garantir o governo de sua família sobre o atual Estado pária desde então.
“É raro encontrar representações da invasão brutal do Japão no Leste Asiático na literatura de ocidental; representações da resistência anticolonial feminina são praticamente inexistentes.”
No entanto, nada disso importa para Juryoung, que se junta à resistência por preocupação com o marido, e não por questões políticas: “Qual a utilidade de libertar um país que não me protege nem cuida de mim? Não é da minha conta o nome do meu país, contanto que minha família não passe fome e não seja jogada no frio”, reflete ela. A prosa, escrita em terceira pessoa, transita habilmente dentro e fora da perspectiva de Juryoung. Seu pragmatismo assumidamente operário contrasta diretamente com o idealismo dos líderes revolucionários masculinos; sua decisão de se juntar à resistência e assumir um papel organizador cada vez mais proeminente desafia ativamente as normas tradicionais de gênero da época. Essas veias feministas percorrem toda a narrativa, que acompanha o relutante despertar político de Juryoung e sua transformação em uma determinada líder ativista.
Ao contrário da esguia e estudiosa Jeonbin, Juryoung — uma trabalhadora rural perspicaz e experiente — rapidamente se destaca entre os rebeldes, que a promovem das tarefas da cozinha para um papel ativo em missões. Quando ela chama a atenção do general, no entanto, um Jeonbin inseguro a rejeita, e Juryoung volta para casa frustrada. Após a morte inesperada do marido, Juryoung e sua família se mudam para Sariwon e passam a atuar como trabalhadores rurais. Seus pais fazem planos para casar Juryoung com o novo senhorio — mas ela não vai.
Em vez disso, Juryoung decide seguir seu próprio caminho e perseguir seu sonho de se tornar uma “garota moderna” em Pyongyang, onde encontra trabalho em uma fábrica de borracha. É a primeira vez em sua vida que ela não tem ninguém lhe dizendo o que fazer, que não está simplesmente priorizando a sobrevivência. Mas, embora tome as decisões em sua nova vida, Juryoung ainda se encontra “presa aos limites de sua imaginação”; suas aventuras anteriores como combatente rebelde parecem um sonho distante. “Fazer algo só porque queria fazer é uma experiência preciosa”, ela contempla, durante um momento tranquilo de descanso com Okkie, uma jovem operária que se torna uma de suas primeiras amigas de verdade.
Durante a Grande Depressão, Juryoung e outros trabalhadores são atingidos por uma série de cortes salariais. À medida que a luta se intensifica, Juryoung acaba se filiando a um sindicato comunista e lidera suas colegas trabalhadoras em greve, organizando protestos que mobilizam os trabalhadores e, por fim, forçam os donos das fábricas a recuarem nos cortes salariais. Ela ascende e se torna uma das mais proeminentes ativistas sindicais na luta pela classe trabalhadora contra a repressão japonesa — um papel que a leva à prisão pelas autoridades coloniais e, por fim, à sua morte.
No capítulo final do livro, ficamos com a imaginação da autora sobre o discurso que ela pode ter proferido em seu infame protesto, no terraço da Fábrica de Borracha de Pyongwon: “Se meu único corpo morresse para que os 2.300 dos meus camaradas sobrevivessem, como não valeria a pena? O maior aprendizado que já recebi é que não há honra maior do que sacrificar a própria vida pelo bem maior.” Juryoung alcança a autorrealização, mas se sacrifica no processo.
Papéis de gênero
Tanto “Capitalistas devem morrer de fome” quanto “Quando mulheres adormecidas despertam” pintam um retrato matizado de como as condições de guerra forçam as mulheres a se distanciarem de seus papéis tradicionais em sistemas patriarcais e, em alguns casos, as impulsionam para um caminho de libertação pessoal — muitas vezes a um custo elevado. Enquanto o texto de Park se concentra na jornada de Juryoung, o romance de Pei Yin explora essas dinâmicas por meio de um elenco de personagens, centrado na história de uma mãe, uma filha e uma empregada doméstica lutando para sobreviver à invasão japonesa em Hong Kong.
 https://jacobin.com.br/wp-content/uploads/2024/05/Banner-300-600-150x300.gif 150w" alt="" width="300" height="600" class="alignnone wp-image-41826 size-full" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; width: 300px; border: none; margin: 1.5em 0px; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" decoding="async" loading="lazy" />
https://jacobin.com.br/wp-content/uploads/2024/05/Banner-300-600-150x300.gif 150w" alt="" width="300" height="600" class="alignnone wp-image-41826 size-full" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; width: 300px; border: none; margin: 1.5em 0px; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" decoding="async" loading="lazy" />Mingzhu, a primeira esposa da abastada família Tang, nascida em Xangai, e sua curiosa filha Qiang vivem uma vida restrita, porém confortável, em Hong Kong, ocupada pelos britânicos, com sua amada empregada, Biyu. Em 1941, o exército japonês captura a cidade e as três mulheres são separadas: Mingzhu é forçada a trabalhar como tradutora para os japoneses, enquanto Qiang e Biyu assumem um trabalho extenuante em uma fábrica têxtil na zona rural dos Novos Territórios. Lá, a jovem e ousada Qiang cruza o caminho da Coluna do Rio Leste, um grupo rebelde clandestino, e decide se juntar aos guerrilheiros.
Alinhada com o Partido Comunista, a Coluna do Rio Leste da vida real trabalhou em estreita colaboração com os nacionalistas chineses e tropas estrangeiras para ajudar a libertar Hong Kong. Escondidos no campo, eles lançaram ataques, sabotaram as linhas de suprimentos inimigas, coletaram informações e montaram operações de fuga para libertar prisioneiros de guerra e internos de campos japoneses. Em um ponto, a resistência cresceu para uma força considerável com cerca de três mil membros, incluindo mulheres e crianças locais. Um exemplo é Fang Gu, uma estudante guerrilheira que ajudou acadêmicos que viviam na pensão de sua mãe a escaparem para fora da ilha de Hong Kong. Depois de se juntar à resistência, ela percorreu o caminho até se tornar uma capitã — uma trajetória que se assemelha à do protagonista Qiang no romance de Pei Yin.
O trauma causado pela opressão colonial é um poderoso catalisador para a mudança, mas as transformações das protagonistas são para sempre mediadas por seu gênero — uma fonte invasiva de conflito e negociação. Capturada pelas tropas japonesas, Mingzhu é nomeada tradutora de um capitão japonês, que se revela um espião da resistência anticolonial. O papel inesperado a salva de se tornar uma “mulher de conforto”, termo que se refere às mulheres que foram forçadas a servir como escravas sexuais em campos japoneses.
Pesquisadores do Japão e da Coreia estimam que os militares japoneses forçaram cerca de duzentas mil mulheres de toda a região a trabalhar nesses bordéis. Mas estudiosos chineses argumentam que o número pode ser ainda maior. Afinal, mulheres sequestradas na China — que geralmente não sobreviviam aos postos de conforto e raramente eram mencionadas nos registros japoneses — provavelmente estão sub-representadas nos dados existentes, de acordo com os autores de “Chinese comfort women: Testimonies from imperial Japan’s sex slaves” [Mulheres de conforto chinesas: Testemunhos de escravas sexuais do Japão imperial].
A ameaça de estupro, violência e fome é constante ao longo do romance, uma narrativa acelerada que não se esquiva dos horrores físicos da guerra, os confronta ativamente. Em uma cena tensa, Qiang embarca em sua primeira missão para explorar um posto de conforto recém-descoberto — apenas para assistir, impotente, a uma mulher grávida se atirar do telhado do prédio para escapar da tortura. O local, Nam Koo Terrace, agora é uma mansão abandonada na vida real. Alguns moradores locais afirmam que ela continua assombrada pelos fantasmas de mulheres que morreram entre suas paredes de tijolos vermelhos.
Enquanto isso, Biyu, faminta, sobrevive a uma surra de soldados japoneses ao retornar de um turno na fábrica, quando sua amiga Francine corajosamente intervém para defendê-la. No entanto, Francine é estuprada e morta, deixando Biyu desolada para levar seu corpo destroçado de volta ao pai idoso, cuja saúde mental entra em colapso após o assassinato da filha.
“Os dois romances iluminam a diversidade e a complexidade da vida das mulheres sob a ocupação japonesa do Leste Asiático, que muitas vezes são retratadas pela lente singular da vitimização.”
Assim como em “Capitalistas Devem Morrer de Fome”, as protagonistas do texto encontram momentos de alívio temporário das brutalidades da opressão colonial, na forma de interações ternas e conexões inesperadas. Apesar das circunstâncias difíceis, elas gravitam em torno do amor em todas as suas possibilidades. Além do amor familiar e da amizade, a narrativa também apresenta tramas românticas paralelas, envolvendo interesses amorosos estrangeiros.
Mingzhu, casada, apaixona-se por Henry Beaumont, um entusiasta da literatura clássica chinesa e professor de línguas de Qiang, pouco antes da invasão. Prisioneiro de guerra britânico, Henry acaba trabalhando para a imprensa controlada pelos japoneses, onde secretamente reúne informações para os rebeldes. Antes da queda da cidade, Qiang também conhece um jovem japonês intrigante, Hiroshi Nakamura. Quando os dois se reencontram, parecem estar em lados opostos do conflito; só mais tarde Qiang percebe que Hiroshi também faz parte da resistência.
Tais relações inter-raciais, relativamente tabu na época, também são possíveis devido às rupturas causadas pela guerra. Talvez o texto pudesse ter abordado mais o colonialismo britânico e os colaboradores chineses — dinâmicas importantes às quais se faz apenas uma breve alusão. No entanto, ao criar personagens que complexificam os retratos estereotipados de britânicos, chineses e japoneses durante o período, o romance considera um ponto de vista frequentemente ignorado daquelas que se encontravam à margem e, obstinadamente, traz suas histórias para o primeiro plano.
Acima de tudo, os dois romances iluminam a diversidade e a complexidade da vida das mulheres sob a ocupação japonesa do Leste Asiático, frequentemente retratadas pela lente singular da vitimização. Rebeldes, mulheres comuns que exerceram sua autonomia arduamente conquistada nas mais precárias condições de guerra, são frequentemente deixadas de fora do relato histórico. Ignorá-las representa uma falha coletiva em celebrar suas contribuições para a resistência anticolonial da região.
Essas narrativas, embora ficcionais, são uma oportunidade de homenagear as mulheres da vida real que morreram pela causa da libertação. São um convite à reflexão sobre os aspectos de gênero de nossas próprias histórias culturais, para que elas também não acabem sendo esquecidas.
Jessie Lau
é uma escritora e jornalista de Hong Kong que vive em Londres.
fonte: https://jacobin.com.br/2025/10/as-mulheres-que-combateram-o-imperio-japones/